Breve análise crítica das regras de prescrição na nova lei de seguros (Lei nº 15.040/2024)
Por Rogério Nigro e Paulo Henrique Cremoneze
I. Introdução: por que 1 ano da recusa e 3 anos do fato gerador?
Sancionada em 9 de dezembro de 2024, a Lei nº 15.040/2024 instituiu no Brasil o novo marco legal dos seguros. Ao revogar expressamente o Capítulo XV do Código Civil (arts. 757 a 802) e parte do Decreto-Lei nº 73/1966, ela buscou unificar, racionalizar e atualizar a disciplina do setor.
Ninguém pecará por exagero ao afirmar que a lei inaugura um sistema normativo próprio para o negócio de seguros, tornando-o ainda mais especial do que já era.
Entre as inovações, o regime da prescrição ocupa lugar central, por sua ligação direta com a segurança jurídica. A prescrição, como sabido, limita o direito de ação pelo decurso do tempo, garantindo a estabilidade das relações e impedindo que litígios se perpetuem indefinidamente.
Vale recordar a antiga máxima de que o Direito não socorre os que dormem. Bem ou mal, é disso que se trata: o direito tem um tempo certo para ser exercido. Ele pode até continuar a existir, porque não alcançado pela decadência, mas o seu titular perde a via para reclamá-lo em juízo.
Em outras palavras, e aqui a repetição é útil porque se volta ao fundamental: o conflito não desaparece pela prescrição, tampouco o direito em si deixa de existir; o que se perde é a possibilidade de provocar a jurisdição, de instaurar a demanda como primeira etapa do litígio.
Nelson Rosenvald, Cristiano Chaves de Farias e Felipe Braga Netto ensinam que a “manutenção indefinida de situações jurídicas pendentes, por lapsos temporais prolongado, importaria, sem dúvida, em total insegurança e constituiria uma fonte inesgotável de conflitos e prejuízos diversos. Consequentemente, surge a necessidade de controlar, temporalmente, o exercício de direitos, propiciando segurança jurídica e social.” [Curso de Direito Civil, Parte Geral e LINDB, volume 1, São Paulo: Editora JusPodium, 2025, p. 850]. Exatamente aí que entra a figura legal da prescrição, acrescentamos.
E, embora aparentemente desnecessário dizer, muito aproveita aqui afirmar que prescrição se trata de conceito universal. Vejamos o que diz o respeitado Diccionário del Español Jurídico da Real Academia Española e do Consejo General del Poder Judicial sobre a prescrição: “Instituição jurídica em que se manifesta um determinado efeito jurídico pelo transcurso de um dado período de tempo”. [Espasa Libros, Barcelona: 2016, p. 1247].
E é também da Espanha que selecionamos decisão da Corte Suprema que representa bem o entendimento jurisprudencial pacífico: “Corresponde ao prazo que delimita o período em que pode levar a cabo uma determinada ação, transcorrido o qual está já não é mais possível. ‘Sendo a prescrição uma instituição não fundada em princípios de extrema justiça, mas nos de abandono ou de desejar o exercício do próprio direito e na segurança jurídica, sua aplicação não deve ser rigorosa e, sim, cautelosa e restritiva” [STS, 1ª., de 29-X-2003, rec. 4061/1997].
Notamos, assim, que a Justiça espanhola se guia pela cautela na aplicação da prescrição justamente porque reconhece sua força inibitória e a gravidade de seus efeitos. Essa prudência revela-se necessária: ao mesmo tempo em que assegura a estabilidade das relações jurídicas, a prescrição fecha as portas ao exercício do direito de ação.
Dito isso, em espécie de introdução geral, pensamos que a grande mudança introduzida pela nova lei reside na criação de dois marcos temporais distintos. O primeiro, de um ano, conta-se da ciência da recusa expressa e motivada da seguradora ao segurado (art. 126, II); o segundo, de três anos, vincula-se ao próprio fato gerador e destina-se a terceiros e beneficiários (art. 126, III).
No primeiro caso, a novidade não está no prazo de um ano, que já era conhecido, mas na exigência de uma recusa expressa e motivada. O que antes ficava por conta da jurisprudência agora se fixou em lei.
Havia dúvida quanto ao momento a partir do qual se iniciava a contagem do prazo ânuo para o segurado acionar a seguradora. A posição dominante era a de que só se iniciava com a negativa expressa do pedido de indenização, mesmo que não fosse fundamentada.
Mas essa posição sempre recebeu críticas; muitos defendiam que o prazo deveria contar da data do sinistro, isto é, do próprio evento que gerava a expectativa de cobertura. E não faltaram decisões que seguiram esse entendimento.
Com a nova lei, a discussão perde sentido. Não resta mais dúvida: sem recusa expressa, formal e motivada, devidamente comunicada ao segurado, não começa a contagem do prazo prescricional. A data do sinistro deixa de ser o ponto de partida.
Já quanto ao prazo de três anos contado do fato gerador para terceiros e beneficiários, o legislador optou por alinhar-se à regra geral do Código Civil aplicável às ações de reparação civil (art. 206, §3º, V). O efeito é uma evidente harmonização.
Em sentido amplo, esses interessados não exercem pretensões derivadas diretamente do contrato de seguro, mas de situações próprias da responsabilidade civil. Nada mais lógico, portanto, do que a lei especial adotar a mesma solução já prevista pelo Código Civil. Dessa forma, elimina-se a controvérsia quanto ao prazo e dispensa-se o recurso a mecanismos de superação de aparentes conflitos de normas.
Antecipamos, desde já, que o tema é árido, apesar de sua aparência de objetividade. Mesmo entre nós, autores desta análise crítica, há pontos de divergência. O desafio, portanto, é expor a matéria da forma mais clara possível, com atenção à didática e ao uso prático do conteúdo pelos interessados.
II. O novo regime prescricional: estrutura e comparação com a legislação anterior
A prescrição é regida pelos artigos 126 e 127 da Lei nº 15.040/2024.
Dispõe o artigo 126, nas alíneas de seu inciso I, que prescrevem em um ano, contado da ciência do respectivo fato gerador, a pretensão da seguradora para a cobrança do prêmio ou de qualquer outra obrigação contra o segurado e o estipulante do seguro; a pretensão de corretores, agentes, representantes de seguro e estipulantes para a cobrança de suas remunerações; as pretensões entre cosseguradoras; e, ainda, aquelas existentes entre seguradoras, resseguradoras e retrocessionárias.
No mesmo artigo, o inciso II estabelece prazo de um ano, contado da ciência da recepção da recusa expressa e motivada da seguradora, para o segurado exigir indenização, capital, reserva matemática, prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias e a restituição de prêmio em seu favor; já o inciso III prevê o prazo de três anos, também contado da ciência do respectivo fato gerador, para beneficiários ou terceiros prejudicados reclamarem da seguradora indenização, capital, reserva matemática ou prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias.
O artigo 127, por sua vez, dispõe que, além das hipóteses de suspensão previstas no Código Civil, a prescrição da pretensão relativa ao recebimento de indenização ou capital segurado poderá ser suspensa uma única vez, quando a seguradora receber pedido de reconsideração da recusa de pagamento. Essa suspensão cessa no dia em que o interessado for comunicado da decisão final da seguradora.
A principal ruptura em relação ao regime anterior está na mudança do termo inicial da prescrição para o segurado, agora vinculado à recusa e não mais ao sinistro.
Isso altera, inclusive, a aplicabilidade da Súmula 229 do STJ, segundo a qual: “o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”.
Antes, como já observamos, havia discussão e boa parte da jurisprudência se orientava pela recusa incontroversa como fato gerador da contagem do prazo. Para muitos, esse entendimento era lógico, coerente e até inevitável.
A partir da nova lei, não há mais dúvida: desde que formal, motivada e efetivamente conhecida pelo segurado, o marco inicial será a recusa. O sinistro deixa de ser a referência. O que está em jogo, em essência, é o direito de ação do segurado contra a seguradora. O ponto de atenção fixa-se, assim, no marco inicial, e hoje é certo que somente a recusa, nos termos exigidos pela lei, poderá produzi-lo.
De todo modo, merece registro a abertura que a própria lei trouxe para intermediários (corretores, agentes, representantes e outros prestadores ligados ao contrato de seguro) cobrarem suas remunerações sob a disciplina própria da lei de seguros.
Esse detalhe reforça a ideia de que se trata de um sistema autônomo e específico: tudo o que gravita em torno do contrato de seguro, ainda que de forma indireta, passa a ser regido por essa legislação especial, e não mais por regras gerais do Código Civil.
III. Pontos críticos e controvérsias
1. O novo termo inicial para o segurado: riscos e benefícios
De um lado, a vinculação do início da prescrição à ciência da recusa expressa e motivada representa um ganho de proteção ao segurado; de outro, traz consigo novos desafios.
O primeiro deles seria o risco de imprescritibilidade. Argumenta-se que, se a seguradora não formalizar a recusa, ou se o segurado atrasar o aviso do sinistro — que deve ser feito de maneira “pronta”, embora sem prazo decadencial definido —, o prazo poderia nunca começar a correr.
Esse receio é plausível, mas entendemos que, na prática, pode ser bem difícil de se confirmar. Nem sempre o que parece problema em teoria se realiza no cotidiano; acreditamos que seja um desses casos. É preciso notar que, se não houver aviso do sinistro, não haverá também recusa. O prazo, portanto, não terá termo inicial, salvo pela interpretação que a jurisprudência venha a dar ao conceito de “pronto”. Embora relevante, esse ponto se conecta mais ao regime do aviso do sinistro do que propriamente ao tema da prescrição.
De todo modo, a lei oferece uma resposta parcial ao problema da indefinição: os
arts. 86 e 87 fixam prazos máximos para a regulação dos sinistros e estabelecem deferimento tácito após 120 dias. Ainda assim, não se trata de solução direta para o tema da prescrição, já que esse prazo de 120 dias conta a partir da entrega dos documentos iniciais e não interfere no marco inicial prescricional.
Outro desafio que merece registro são os possíveis litígios em torno da validade da recusa. O conteúdo da motivação passa a ser, em juízo, um novo campo de debate. Essa abertura gerará discussões; reconhecemos. Mas não acreditamos que afastará o exame do mérito da cobertura.
Assim, a preocupação está longe de ser ilegítima; a tendência, porém, é que o sistema se acomode, ainda mais porque, embora a nova lei tenha revogado o Capítulo XV do Código Civil, o art. 206, §3º, IX, que prevê prescrição de três anos para beneficiários e terceiros em seguros obrigatórios, não foi expressamente revogado, mas apenas de forma tácita. Esse quadro sugere que o ordenamento poderá se estabilizar sem maiores sobressaltos.
Por fim, também digno de atenção é o problema que se apresenta de forma mais concreta e sem grandes controvérsias: o impacto operacional. É de esperar que as seguradoras tenham de investir em mecanismos formais de comprovação de que a recusa foi entregue, para afastar alegações de desconhecimento por parte do segurado.
Pelo que temos ouvido de colegas que atuam no mercado, esse é hoje o ponto que mais preocupa internamente, exigindo adaptações rápidas e consistentes.
2. A ambiguidade do "fato gerador" no art. 126, I e III
Desde a promulgação da nova lei, e para que estejamos devidamente preparados para sua correta interpretação e aplicação, temos ouvido atentamente especialistas em Direito dos Seguros e em Direito Processual Civil, muitos dos quais temos a honra de considerar amigos.
Como era de se esperar, não há unanimidade; o Direito é dialético por excelência, e essa dialética ganha força quando surge uma nova lei.
Tal como empregado, o termo “fato gerador” não foi claramente definido, e isso abriria margem para controvérsia em diferentes situações práticas. Para a cobrança do prêmio, permaneceria a dúvida se o marco inicial é o vencimento da parcela ou a emissão da apólice. Na remuneração de corretores, discute-se se a data relevante é a da intermediação concluída ou a do pagamento do prêmio. Já no caso das pretensões de terceiros, não estaria claro se o prazo deve correr da data do acidente, da ciência dos danos ou do conhecimento da existência da apólice.
Essa indefinição projeta efeitos imediatos sobre dois campos cruciais: a segurança jurídica, pela dificuldade de fixar o início da prescrição, e a gestão de riscos, pela incerteza que impõe a segurados, seguradoras e terceiros.
Quando se examina a cobrança do prêmio, situação inserida no contexto contratual e sujeita ao prazo ânuo, parece mais consistente entender o fato gerador como a inadimplência do valor devido. O pagamento do prêmio é a contraprestação imediata pela garantia disponibilizada, e, se ele não é honrado, a mora se verifica no dia seguinte ao vencimento da parcela. É nesse momento, e não na emissão da apólice, que nasce o direito de cobrança da seguradora.
A remuneração dos corretores apresenta maior complexidade. De um lado, pode-se sustentar que a intermediação concluída já gera ao corretor a expectativa legítima de remuneração. De outro, salvo ajuste expresso em sentido diverso, o pagamento da corretagem costuma coincidir com o pagamento do prêmio. Embora sejam direitos autônomos, ambos estão intimamente ligados. Nesse quadro, princípios como simetria e paridade — tão caros ao Direito das Obrigações — apontam para a conclusão de que o fato gerador deve ser associado ao pagamento do prêmio, inadimplido.
Mais delicada ainda é a definição do marco inicial nas pretensões de terceiros. Todas as hipóteses levantadas podem ser defendidas: a data do acidente, a ciência dos danos ou o conhecimento da apólice.
Optamos, todavia, pela data do sinistro, por ser objetiva e sempre aferível. As outras opções carregam subjetividade e dificuldade de prova, o que compromete a segurança jurídica. A data do acidente, ao contrário, se apresenta de modo imediato, cabendo ao interessado verificar se o causador do dano era segurado. Ainda que isso nem sempre seja simples, a objetividade do marco compensa.
Talvez esse cuidado seja, no fim, um tanto excessivo. É improvável que um demandado deixe de denunciar a lide à sua seguradora. A verdadeira preocupação está na hipótese de ação direta contra a seguradora, mas, mesmo nesse cenário, não nos parece que a escolha do sinistro como marco inaugural do prazo trienal traga prejuízo concreto a quem de direito.
3. A diferença de prazos: segurado (1 ano) e terceiros (3 anos)
A significativa diferença entre o prazo de um ano para o segurado e de três anos para terceiros e beneficiários é apontada por muitos como ponto crítico e provável fonte de controvérsia, descrita em termos como disparidade ou discrepância. Em seguros de responsabilidade civil, por exemplo, o terceiro lesado terá prazo superior ao próprio segurado para acionar a seguradora, o que é visto por alguns como fator de desequilíbrio contratual.
Esse raciocínio é compreensível; não deve ser desconsiderado. Ainda assim, parece mais convincente a leitura de que a lei especial buscou alinhar-se à regra geral do Código Civil, como já antes salientado.
O prazo para ações de reparação civil é de três anos. Assim, o terceiro ou beneficiário que demanda tanto o causador do dano (segurado) quanto sua seguradora não o faz propriamente em razão do contrato de seguro, mas pelo fato de ter sido vítima de um dano.
Embora esteja no centro da cena, o contrato de seguro não é em si a causa da pretensão. A causa é a responsabilização civil. Por isso, correto que o prazo aplicável seja o trienal e que se diferencie das hipóteses ligadas diretamente à relação de seguro, às quais se reserva o prazo ânuo, tradicionalmente aplicado e agora reafirmado.
4. Impacto na súmula 229/STJ e a nova regra de suspensão (art. 127)
Com a mudança do termo inicial da prescrição para a data da recusa, a Súmula 229/STJ, que previa a suspensão da prescrição durante o processo administrativo, perde eficácia para os segurados. É verdade que caberá à Justiça a confirmação disso, mas já se pode antever esse desfecho pela boa lógica jurídica.
O art. 127 cria uma forma de suspensão limitada: apenas um pedido de reconsideração poderá suspender o prazo, cessando com a decisão final da seguradora.
Pensamos, contudo, que nos casos de maior complexidade e de valores elevados, segurado, seguradora e regulador poderão convencionar soluções próprias de suspensão, examinando o que for de interesse comum, em benefício de todos e em favor da saúde do negócio de seguro.
Resta dúvida se a Súmula 229 poderá ter aplicação residual para beneficiários e terceiros (art. 126, III), cujo prazo ainda se inicia com a ciência do fato gerador.
5. Convivência com o Código Civil e conflitos normativos
Embora a nova lei tenha revogado o Capítulo XV do Código Civil, o art. 206, §3º, IX, que prevê a prescrição de três anos para beneficiários e terceiros em seguros obrigatórios, não foi expressamente revogado. Pode-se falar, portanto, em revogação tácita, ainda que parcial, para os interessados vinculados a um contrato de seguro.
A conclusão decorre dos critérios clássicos de solução dos conflitos aparentes de normas: a regra posterior prevalece sobre a anterior e a especial tem primazia sobre a geral.
A delimitação do prazo trienal, ao que nos parece, traduz o cuidado do legislador em promover harmonização sistêmica.
Isso não elimina, entretanto, novas dúvidas práticas que vêm sendo levantadas por colegas que atuam diretamente com o Direito dos Seguros.
Uma delas é saber qual regra deve prevalecer nos seguros de responsabilidade civil obrigatórios; outra é se as causas gerais de interrupção e suspensão da prescrição previstas no Código Civil continuam a valer; há ainda a questão de saber se o prazo geral de dez anos do art. 205 do Código Civil poderia ser aplicado como limite em caso de demora excessiva na recusa.
As respostas, sempre provisórias, podem ser esboçadas.
Quanto à primeira dúvida, entendemos que deve prevalecer a lei especial, por estar intimamente ligada ao negócio de seguro. Não se trata aqui de uma relação contratual isolada, mas de um regime próprio que leva em conta a responsabilidade no contexto securitário.
Quanto à segunda, pensamos que as hipóteses de suspensão devem ser apenas as previstas na lei especial, mas as de interrupção, ausentes na nova lei, continuam a ser aquelas do Código Civil.
Já a terceira é a mais difícil: dependerá da dialética natural do Direito. Nossa impressão é que não se aplicará o prazo decenal, em respeito ao bom senso e ao espírito da lei. Não se pode descartar, contudo, que haja interpretação em sentido diverso.
De todo modo, parece claro que esse será um campo fértil para litígios em torno de conflitos de normas, o que exigirá da jurisprudência um esforço de acomodação.
6. Demora na comunicação do sinistro: art. 66 e o ônus probatório
A nova lei preservou o dever de o segurado comunicar o sinistro “prontamente”, sem, contudo, fixar prazo objetivo.
Se houver atraso, as consequências variam: no caso de dolo, haverá perda total da garantia; se houver culpa, haverá redução proporcional, limitada ao prejuízo comprovado. Em ambas as hipóteses, o ônus da prova recai sobre a seguradora, que deve demonstrar a demora, o prejuízo e o nexo causal.
Essa indefinição temporal, somada ao novo marco inicial da prescrição, pode gerar reflexos relevantes nas reservas técnicas (IBNR) e na precificação dos produtos, pois amplia o risco de sinistros comunicados tardiamente.
Como não há base objetiva para um prognóstico seguro, será a jurisprudência futura que dará a melhor inteligência ao que deve ser entendido como “prontamente”.
IV. Impacto prático: litigiosidade, segurança jurídica e precificação
A intenção declarada da nova lei foi reduzir litígios e conferir maior previsibilidade às relações securitárias. Compete-nos, contudo, reconhecer que, ao menos na fase inicial de sua aplicação, é possível imaginar um cenário de maior conflituosidade.
A definição de um marco objetivo para o início da prescrição, vinculado à recusa, pode de fato reduzir disputas, mas ao mesmo tempo surgirão novas controvérsias em torno da validade dessa recusa e do significado de “fato gerador”. É nesse ponto que se insere a contribuição que buscamos oferecer neste artigo.
Não se pode negar, por outro lado, que a exigência de uma recusa formal e motivada representa avanço em transparência para o segurado, o que deve ser saudado.
Também é certo que a busca por segurança jurídica continua em aberto, fragilizada pela convivência com o Código Civil e pela ausência de definição de termos-chave. Ainda assim, vale o esforço em direção a essa estabilidade, mesmo que ela não se realize de imediato.
Por fim, é inevitável considerar os impactos financeiros da nova disciplina. A necessidade de manter provisões por períodos mais longos e os custos decorrentes do maior rigor documental influenciarão o preço dos produtos. Antecipamos, ainda, que as seguradoras terão de reorganizar operações internas e rever procedimentos, num processo que exigirá tempo e investimento.
Em suma, muita coisa há de ser feita.
V. Conclusão e recomendações
A Lei nº 15.040/2024 representa um avanço na proteção do segurado ao vincular a prescrição à recusa expressa e ao limitar a suspensão a um único pedido de reconsideração. Representa, também, progresso em outros campos, ainda que suscite críticas compreensíveis, por vezes formuladas de modo severo. Nossa visão, no conjunto, é positiva: a lei merece o prestígio de todos que atuam com o Direito dos Seguros.
Entretanto, persistem pontos críticos que exigirão atenção:
- Esclarecimento jurisprudencial sobre o que se deve entender por “fato gerador” nos artigos 126, I e III.
- Definição de parâmetros objetivos para caracterizar uma recusa “motivada” válida.
- Análise da possível manutenção da Súmula 229 para beneficiários e terceiros.
- Resolução de conflitos entre a nova lei e o Código Civil.
- Possível regulamentação pela SUSEP, em especial quanto a prazos, requisitos formais de comunicação e parâmetros de controle atuarial.
A eficácia positiva da nova legislação dependerá da rápida adaptação das seguradoras, da atuação regulatória da SUSEP e da construção de uma jurisprudência capaz de oferecer segurança jurídica a todos os envolvidos no contrato de seguro. Estar preparado para isso é dever de todos, sobretudo porque a lei entra em vigor já em dezembro, e não há tempo a perder.
Como costuma lembrar nosso estimado amigo Marcio Malfatti em tantas ocasiões de debate: “dezembro é amanhã”.
Rogério Câmara Nigro é advogado especialista em Direito do Seguro, com pós-graduação em Direito Empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e especialização em Direito Bancário pela FGV. Também é graduado em Administração de Empresas, reunindo mais de 18 anos de experiência no setor jurídico-corporativo, com ênfase em seguros, regulação e mercado financeiro. É membro efetivo da Comissão Especial de Direito do Seguro e Resseguro e da Comissão Especial de Compliance da OAB/SP.
Paulo Henrique Cremoneze é socio de Machado e Cremoneze – Advogados Associados, doutorando em Direito Civil pela Universidade de Coimbra, mestre em Direito Internacional Privado pela Universidade Católica de Santos (onde se graduou em Direito), especialista em Direito dos Seguros pela Universidade de Salamanca e pela Universidade de Montevidéu, especialista em Contratos e Danos e em Direito Processual Civil pela Universidade de Salamanca, acadêmico da Academia Nacional de Seguros e Previdência, laureado pela OAB-Santos por exercício ético e exemplar da advocacia.
(12.09.2025)
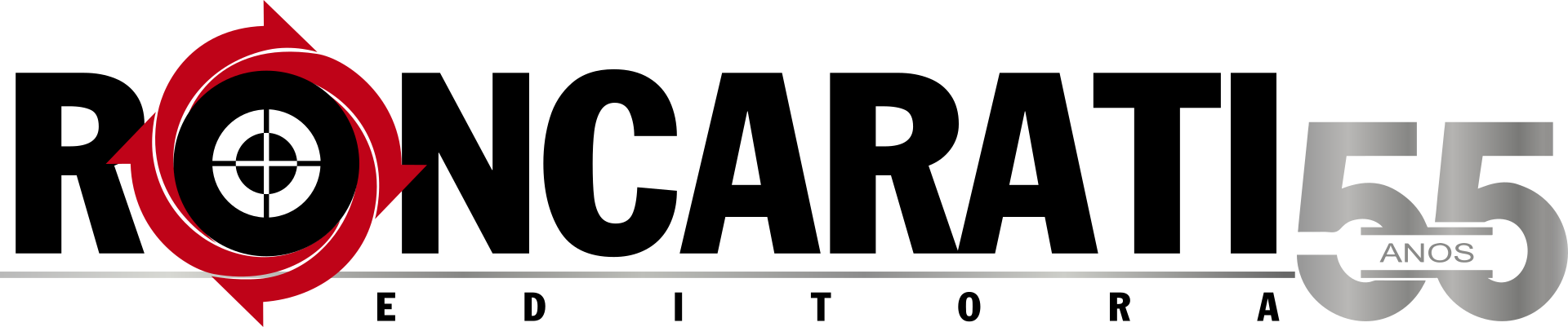

 Leia todos os artigos
Leia todos os artigos