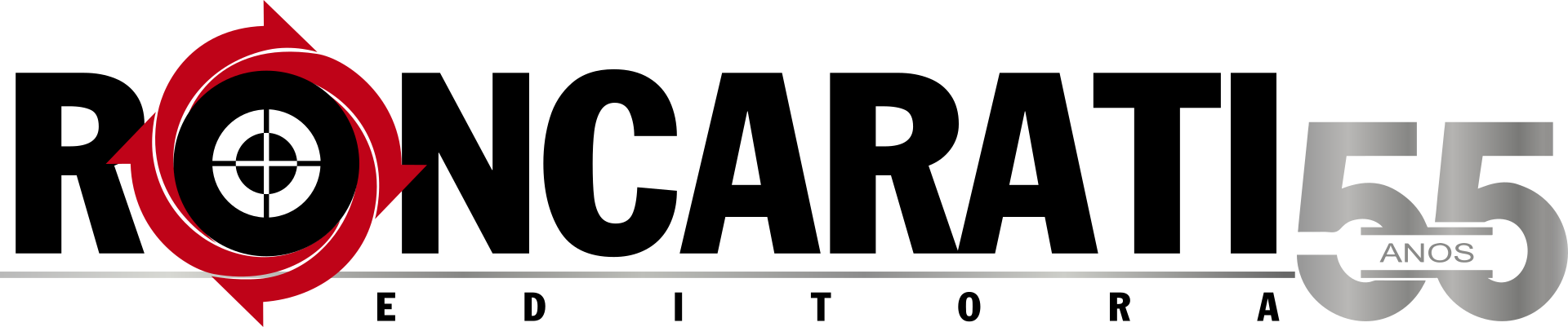RESOLUÇÃO CONAETI/MTE Nº 006, DE 28.08.2025
Homologa a Nota Técnica da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil sobre a Proposta de Emenda Constitucional nº 18/2011, que dá nova redação ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
O COORDENADOR DA COMISSÃO NACIONAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - CONAETI, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 10, inciso VI, do Decreto nº 11.496, de 19 de abril de 2023, e pelos art. 2º, inciso VI, e art. 10, inciso I, do Regimento Interno da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, homologado por meio da Resolução SIT/MTE n.º 2, de 20 de maio de 2024, resolve:
Art. 1º Homologar, na forma do Anexo desta Resolução, a Nota Técnica da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 18/2011, documento aprovado na Quinta Reunião Ordinária do Colegiado, ocorrida em 7 de novembro de 2024.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ROBERTO PADILHA GUIMARÃES
(DOU de 02.09.2025 – págs. 170 e 171 - Seção 1)
ANEXO
NOTA TÉCNICA SOBRE A PEC 18/2011
1. RELATÓRIO
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 18, de 2011, pretende alterar o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal a fim de possibilitar o trabalho sob o regime de tempo parcial a pessoas com idade a partir dos quatorze anos, nos seguintes termos:
Art. 7º........................................................................
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz ou sob o regime de tempo parcial, a partir de quatorze anos;
.......................................................................... (NR)
As justificativas apresentadas para a Proposta trazem argumentos relacionados à ociosidade de adolescentes, o que levaria ao envolvimento com o crime e ao trabalho informal, bem como dificuldades econômicas que acabam por demandar que adolescentes ingressem no trabalho informal para auxiliar no sustento da família.
Observa-se que, atualmente, os adolescentes com idade entre 14 e 15 anos já podem trabalhar, desde que na modalidade da Aprendizagem Profissional. Dessa forma, verifica-se que a PEC em análise busca, essencialmente, reduzir a idade mínima para o trabalho, ao permitir que adolescentes de 14 e 15 anos possam celebrar contratos de trabalho e exercer funções como empregados em geral, com a única restrição de que atuem em regime de tempo parcial.
É o relatório.
Passa-se, então, à análise.
2. ANÁLISE
2.1 Violação da Convenção nº 138 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre Idade Mínima de Admissão ao Emprego
O Convenção nº 138 da OIT, sobre Idade Mínima de Admissão ao Emprego, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 179, de 14 de dezembro de 1999, e com entrada em vigor, para o Brasil, em 28 de junho de 2002, estabelece em seu art. 1º:
Todo País-Membro, no qual vigore esta Convenção, compromete-se a seguir uma política nacional que assegure a efetiva abolição do trabalho infantil e eleve, progressivamente, a idade mínima de admissão a emprego ou a trabalho a um nível adequado ao pleno desenvolvimento físico e mental do jovem (Grifamos).
No caso, observa-se que, ao introduzir a possibilidade de exercício de qualquer trabalho em regime de tempo parcial a partir dos 14 anos, reduzindo a idade mínima para o trabalho no Brasil, a PEC afronta direta e literalmente o disposto na Convenção nº 138 da OIT que dispõe sobre a obrigatoriedade aos países-membros em estabelecer uma política nacional que eleve progressivamente a idade mínima de admissão a emprego ou a trabalho.
Quanto à idade mínima de admissão a emprego, dispõe o artigo 2º da Convenção que "Todo Membro que ratificar esta Convenção especificará, em declaração anexa à ratificação, uma idade mínima para admissão a emprego ou trabalho em seu território". O §3º do mesmo dispositivo estabelece que a idade mínima a ser fixada pelo País não será inferior à idade de conclusão da escolaridade compulsória ou, em qualquer hipótese, não inferior a quinze anos.
Essas disposições são complementadas pelo art. 7º, parágrafo primeiro, da Recomendação nº 146 da OIT:
Os Estados-membros deveriam ter como objetivo a progressiva elevação, para dezesseis anos, da idade mínima para admissão a emprego ou trabalho especificado de conformidade com o artigo 2º da Convenção sobre Idade Mínima, 1973.
O Brasil, juntamente com os 44 países, entre os quais, Argentina, Bulgária, Canadá, China, Espanha, França, Hungria, Irlanda, Portugal e Reino Unido, fixaram a idade mínima para o trabalho em 16 anos[1].
Dentro desse contexto, para além da fixação de um patamar mínimo, ressalta-se que as normas internacionais vinculam a idade mínima para o trabalho com a idade de término da escolarização obrigatória. Ou seja, o texto da Convenção prioriza a educação em detrimento do trabalho, enfatizando que a principal preocupação para o adolescente deve ser a frequência escolar, e não a inserção no mercado de trabalho.
No Brasil, conforme o disposto no artigo 208, inciso I, da CRFB/88, e artigo 4º, inciso I, da Lei nº 9.394/1996, a educação básica obrigatória e gratuita abrange toda pessoa com idade de quatro a dezessete anos. Logo, o caminho a ser trilhado deveria ser o da elevação da idade mínima para o trabalho e nunca a sua redução.
O texto da PEC vai em direção contrária ao reduzir o limite mínimo de admissão ao trabalho para 14 anos, afastando-se da idade de conclusão da escolaridade compulsória (17 anos).
Assim, pelo exposto, observa-se que a PEC nº 18/2011, que pretende a redução da idade mínima para o trabalho no Brasil, afronta diretamente as disposições da Convenção nº 138 e Recomendação nº 146 da OIT, pois reduz, ao invés de elevar, a idade mínima para a admissão a emprego ou a trabalho, bem como não observa os parâmetros estabelecidos na Convenção para a definição da idade mínima para trabalhar. Além disso, estabelece um retrocesso em relação ao patamar de idade mínima para o trabalho recomendado pela OIT.
2.2 A Aprendizagem Profissional e suas diferenças em relação ao trabalho em regime de tempo parcial
O trabalho em regime de tempo parcial previsto na PEC nº 18/2011 consiste em um contrato de trabalho comum a todos os trabalhadores adultos, sem caráter de formação profissional, que tem por objetivo principal o atendimento de demanda de mão de obra das empresas, não se confundindo com a Aprendizagem Profissional. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o trabalho em regime de tempo parcial é aquele com duração máxima de 30 horas semanais. Com exceção dessa limitação de jornada, este tipo de contratação não traz nenhum outro tipo de proteção especial, sendo executada da mesma forma que os contratos de trabalho em geral.
A Aprendizagem Profissional está prevista na Constituição Federal (art. 7º, inciso XXXIII), e é disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho (artigos 428 a 433) e regulamentada pelo Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018. Trata-se de uma exceção à regra da idade mínima para o trabalho (16 anos), uma vez que também podem ser aprendizes adolescentes na faixa etária de 14 e 15 anos. Tem como principal objetivo assegurar a adolescentes e jovens o direito à profissionalização, estabelecido no caput do art. 227 da Constituição Federal de 1988.
A aprendizagem é realizada por meio de um contrato de trabalho especial, formalizado por escrito e com duração determinada de, no máximo, 2 anos, no qual o empregador se compromete a proporcionar ao aprendiz uma formação técnico-profissional estruturada, compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, com remuneração conforme estabelecido por lei.
No contrato de aprendizagem, o foco na formação e na educação prevalece sobre o aspecto produtivo. Nesse cenário, o adolescente (ou jovem) participa de atividades teóricas e práticas, estruturadas em tarefas de complexidade crescente, dentro de um programa de aprendizagem desenvolvido por uma instituição formadora devidamente habilitada.
Na Aprendizagem, são garantidos aos adolescentes qualificação profissional, experiência prática em ambiente de trabalho seguro e protegido, direitos trabalhistas e previdenciários, realização de atividades compatíveis com as suas necessidades, habilidades e interesses, e transição da escola para o mundo do trabalho. Dentre as condições de validade do contrato de aprendizagem, está a obrigatoriedade de que o aprendiz esteja matriculado e frequentando a escola regular até que conclua o ensino médio.
Ou seja, a inclusão de adolescentes a partir de 14 na aprendizagem profissional trata-se da política que efetivamente assegura uma perspectiva de futuro, por meio da qualificação profissional e da permanência na escola, além de fazer frente à situação de vulnerabilidade socioeconômica por meio da garantia de direitos trabalhistas e previdenciários aos aprendizes durante o seu contrato.
De outro lado, a simples inclusão de adolescentes no mercado de trabalho para atendimento de necessidade de mão de obra das empresas, sem qualquer cunho profissionalizante, sem a obrigatoriedade da matrícula e frequência à escola, e sem a proteção especial assegurada por meio das regras aplicáveis à aprendizagem profissional, trata-se de uma medida que trará prejuízos à escolarização dos adolescentes e não lhes assegurará a qualificação profissional para o mercado de trabalho, contribuindo para a criação de uma massa de jovens sem condições de alcançar trabalhos qualificados que lhes assegurem uma renda digna na vida adulta.
Dessa forma, não se pode considerar qualquer outra hipótese de ingresso no mercado de trabalho de adolescentes a partir de 14 anos que não seja por meio da aprendizagem profissional, um instituto sólido e cujas regras garantem a obrigatoriedade escolar, a qualificação para o mundo do trabalho, e o respeito ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, em conformidade com a legislação brasileira e internacional.
2.3 Violação de preceitos constitucionais e infraconstitucionais
2.3.1. Princípio da Proteção integral
O ordenamento jurídico brasileiro, no que tange ao tratamento jurídico conferido à criança e ao adolescente, adotou a doutrina sociojurídica da proteção integral, caracterizada pelo reconhecimento de que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos próprios e específicos, adequados à sua condição de pessoas em desenvolvimento, os quais devem ser garantidos com prioridade absoluta.
Essa Doutrina fundamenta-se no fato de que crianças e adolescentes, por estarem em uma fase singular de crescimento e formação, demandam uma atenção especial por parte do Estado, da família e da sociedade, devendo ser priorizadas tanto na promoção de direitos adequados à sua condição de pessoas em desenvolvimento, quanto na execução de políticas públicas com o objetivo de assegurar o pleno desenvolvimento físico, psíquico, moral, social e educacional.
A proteção integral está positivada em nosso ordenamento jurídico no artigo 227, da Constituição Federal, que assim dispõe:
"É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".
No plano infraconstitucional, a proteção integral está positivada no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/1990, que estabelece:
"Art. 1º: Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.
(...)
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude".
Na esfera trabalhista, a proteção integral é representada pelo estabelecimento de uma idade mínima para trabalhar, pela proteção contra trabalhos prejudiciais ao desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e à escolarização, e pelo direito à profissionalização.
Nesse contexto, o artigo 32 da Convenção dos Direitos da Criança (1989), ratificada pelo Brasil, e que positiva a proteção integral na esfera internacional, estabelece no seu artigo 32 a seguinte disposição relacionada ao trabalho:
Artigo 32.
1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança de estar protegida contra a exploração econômica e contra o desempenho de qualquer trabalho que possa ser perigoso ou interferir em sua educação, ou que seja nocivo para sua saúde ou para seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social.
2. Os Estados Partes adotarão medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais com vistas a assegurar a aplicação do presente Artigo. Com tal propósito, e levando em consideração as disposições pertinentes de outros instrumentos internacionais, os Estados Partes deverão, em particular:
a) estabelecer uma idade ou idades mínimas para a admissão em empregos;
b) estabelecer regulamentação apropriada relativa a horários e condições de emprego;
c) estabelecer penalidades ou outras sanções apropriadas a fim de assegurar o cumprimento efetivo do presente Artigo.
Sob essa perspectiva, o Brasil expressamente estabeleceu, dentre os direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição Federal, uma idade mínima para o ingresso de crianças e adolescentes no mercado de trabalho e a proteção do adolescente contra atividades noturnas, insalubres e perigosas, nos seguintes termos:
Art. 7º XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
Além disso, no artigo 227, da CRFB/88, foram assegurados, dentre outros, o direito à profissionalização, a proteção contra a exploração, o respeito à idade mínima para o trabalho e a garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola.
Importa ressaltar que a vedação ao trabalho antes de determinada idade mínima consiste em um direito humano, social e fundamental, indissociável da proteção integral com prioridade absoluta de crianças e adolescentes e do princípio fundamental da República Federativa do Brasil de garantia da dignidade da pessoa humana (art. 3º, III, da Constituição da República).
Sobre o direito à profissionalização, importante destacar que esse direito está relacionado com a necessidade de aquisição de conhecimento e desenvolvimento de competências, com o objetivo de preparar o adolescente para, na fase adulta, ingressar no mercado de trabalho em ocupações qualificadas, que ofereçam melhor remuneração e condições dignas de trabalho. Esse direito está vinculado diretamente com o instituto da aprendizagem profissional e não corresponde a uma permissão ao trabalho precoce.
Assim, observa-se que a PEC nº 18/2011, ao pretender a redução da idade mínima para o trabalho, expondo adolescentes com idade de 14 anos aos malefícios do trabalho precoce, afronta os direitos fundamentais relacionados com a proteção integral no trabalho e contraria direta e literalmente o disposto nos artigos 7º, inciso XXXIII, e 227 da CRFB/88.
2.3.2. Violação ao princípio da vedação ao retrocesso social
A idade mínima para o trabalho contida no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição traduz um direito social e, como tal, um direito humano fundamental, que tem por objetivo a satisfação de um dos Princípios norteadores da Carta Magna, qual seja, a dignidade da pessoa humana. Esse direito encontra-se protegido pela cláusula da vedação do retrocesso social, tendo em vista que os direitos fundamentais, uma vez reconhecidos, não podem ser abandonados nem diminuídos.
Importa ressaltar que a vedação ao retrocesso social foi incorporada expressamente como princípio ao ordenamento jurídico brasileiro a partir da assinatura do Protocolo de San Salvador (1988), instrumento adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969 (Pacto de San José da Costa Rica), ratificada por meio do Decreto nº 3.321/1999.
Dessa forma, são inadmissíveis propostas, como a contida na PEC nº 18/2011, que pretendam retroceder no estabelecimento da idade mínima para o trabalho, reduzindo-a, mesmo que por intermédio de emenda à Constituição, pois oriunda do poder constituinte derivado.
2.3.3. Violação de Cláusula Pétrea
Os direitos sociais dos trabalhadores, entre os quais se encontra o art. 7º, inciso XXXIII, configuram-se, sem dúvida, entre o rol de direitos e garantias individuais. Tanto é assim que estão inseridos no Título II da Constituição Federal, nomeado "Dos direitos e garantias fundamentais".
Nesse contexto, em razão da caracterização como direito humano e fundamental, a vedação ao trabalho infantil constitui cláusula pétrea inalterável e, por isso, está protegida de propostas reducionistas do poder constitucional reformador.
Desta forma, a idade mínima para o trabalho, que objetiva, em última análise, a proteção contra os malefícios do trabalho precoce, não pode ser reduzida, sob pena de afrontar direta e literalmente o previsto no artigo 60, § 4º, da Constituição Federal de 1988, que determina que: "não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, dentre outros, os direitos e garantias individuais".
2.4 Prejuízos à saúde
Os adolescentes se encontram em fase de desenvolvimento físico e psíquico, não estando preparados para enfrentar as condições de trabalho às quais os adultos são submetidos. Devido a essa etapa de crescimento, o envolvimento em atividades laborais que exigem esforços físicos intensos ou oferecem riscos pode comprometer o pleno desenvolvimento e causar danos irreversíveis à sua saúde. Nesse sentido, é essencial que sejam resguardados de situações que possam colocar em perigo a sua integridade física e emocional.
Para exemplificar sua condição de pessoa em desenvolvimento, é possível citar alguns aspectos da fisiologia dos adolescentes, como um sistema pulmonar com ventilação reduzida; um sistema osteo-músculo-articular em formação e com maior risco de lesões; e um sistema nervoso mais suscetível aos efeitos de agentes químicos.
Dentro desse contexto, ressalta-se que o Ministério da Saúde reconhece o trabalho infantil como um grave problema de saúde pública[2], diante das consequências à saúde e ao desenvolvimento de crianças e adolescentes, que demanda a execução de políticas públicas específicas, como é o caso da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Crianças e Adolescentes (Pnaisc), que inclui ações de atenção integral, prevenção e vigilância de doenças e agravos de crianças e adolescente em situação de trabalho infantil. Conforme os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), do Ministério da Saúde, entre os anos de 2007 e 2022 foram registrados 34.805 acidentes de trabalho graves envolvendo crianças e adolescentes. Somente em 2022, foram registrados 3.077 acidentes de trabalho graves envolvendo pessoas com idade entre 5 e 17 anos[3].
Portanto, estimular a contratação de adolescentes entre 14 e 15 anos em modalidade de trabalho que não seja a do ambiente protegido exigido pela Aprendizagem Profissional tornará os adolescentes mais suscetíveis a danos à saúde e a riscos de acidente de trabalho, incluindo morte.
2.5 Prejuízos à educação
O trabalho infantil impacta negativamente a educação de crianças e adolescentes. O desgaste físico e o cansaço resultantes do trabalho precoce comprometem o desempenho escolar, dificultando ou até impedindo o aprendizado. Esse cenário frequentemente leva ao abandono escolar.
Segundo informe do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)[4], de setembro de 2022, dois milhões de crianças e adolescentes de 11 a 19 anos não estão frequentando a escola. Conforme pesquisa do IPEC para o UNICEF, intitulada, "Educação Brasileira em 2022 - a voz de adolescentes":
"Entre quem não está frequentando a escola, metade (48%) afirma que deixou de estudar 'porque tinha de trabalhar fora'. Dificuldades de aprendizagem aparecem em patamar também elevado, com 30% afirmando que saíram 'por não conseguirem acompanhar as explicações ou atividades'".
Ademais, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) 2023, do IBGE, também apontou diferenças em relação à matrícula e à frequência escolar das crianças e adolescentes que não trabalhavam e das que trabalhavam. Enquanto 97,5% da população de 5 a 17 anos de idade era formada por estudantes, entre os trabalhadores infantis a estimativa diminuía para 88,4%.
Nesse contexto, ressalta-se que o trabalho precoce afeta diretamente a frequência na escola, bem como a progressão para a conclusão da educação básica na idade certa, na medida em que impede que o adolescente se dedique plenamente aos estudos, incluindo o tempo em sala de aula e o tempo destinado às tarefas escolares. Logo, mesmo em jornada reduzida (6 horas diárias e 30 horas semanais), o trabalho do adolescente como empregado em geral interfere diretamente nos estudos e na permanência na escola, impedindo, assim, a formação escolar adequada.
2.6. Prejuízos econômicos e sociais
Na sociedade contemporânea, marcada pela revolução tecnológica e pela exigência cada vez maior de qualificação profissional para o exercício de trabalho decente, adolescentes de 14 e 15 anos sujeitos ao trabalho precoce, sem o foco na qualificação profissional e nos estudos, dificilmente conseguirão adquirir as competências necessárias para a inserção, no futuro, no mundo do trabalho.
O resultado prático desse processo para os adolescentes é, na vida adulta, a ocupação em subempregos ou exclusão do mercado de trabalho formal, com o comprometimento de seus rendimentos futuros e de oportunidades de mobilidade social. Essa massa de trabalhadores pouco formados e precarizados não atenderão aos requisitos necessários ao desenvolvimento das empresas e do País.
Além disso, o emprego precoce de adolescentes traz, de forma imediata, consequências na ocupação de trabalhos hoje realizados por adultos, levando a um maior desemprego desse último grupo, sobretudo da população mais jovem, de 18 a 24 anos de idade.
Sob essa perspectiva, a PEC nº 18/2011, ao reduzir a idade mínima para o trabalho, longe de ser a resposta para a vulnerabilidade social/econômica, acabará por contribuir para o incremento da desigualdade estrutural, pobreza, exclusão social e marginalização.
2.7 Inversão do papel da família, da sociedade e do Estado
Dentre as justificativas para a proposta de alteração constitucional por meio da PEC nº 18/2011, consta o problema da "ociosidade dos jovens, levando ao envolvimento com o crime e ao trabalho informal, a que muitos menores recorrem para auxiliar no sustento da família diante das dificuldades econômicas."
Observa-se que tais justificativas estão eivadas da cultura de naturalização do trabalho precoce e de mitos sobre o trabalho infantil ainda persistentes na sociedade brasileira. Primeiramente, importante dizer que os mitos trazem narrativas fantasiosas. O trabalho infantil não deve ser visto como uma solução para comportamentos delitivos. A crença de que o trabalho é alternativa ao ingresso na criminalidade desconsidera diversos direitos das crianças e adolescentes garantidos pelo artigo 227 da Constituição Federal de 1988 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Reportagem do Correio Braziliense[5], intitulada, "Crianças e adolescentes devem trabalhar para fugir do crime?", destaca esse fator:
Apesar de o senso comum dizer o contrário, especialistas consideram que não há relação direta entre começar a trabalhar cedo e se livrar de uma trajetória de crimes. Se fosse simples assim, 85% dos detentos do Carandiru, em São Paulo, não teriam começado a trabalhar ainda na infância, como mostra a dissertação de mestrado do hoje desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do Paraná. Na verdade, a relação está mais perto de ser a contrária, já que o trabalho infantil leva muitos jovens a saírem da escola ou subaproveitarem as aulas, e a baixa escolaridade é um fator em comum entre a maioria dos presos.
Outro ponto destacado na reportagem é relacionado com a falta de perspectivas que o trabalho precoce gera, que acaba levando crianças e adolescentes a abandonar a escola e se tornarem jovens sem perspectiva, levando-os para a criminalidade:
Coincidentemente ou não, dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostram que a maioria dos presos no Brasil é de jovens e de baixa escolaridade. Dos quase 600 mil detentos, apenas 2 mil (0,4%) têm diploma de nível superior. Os analfabetos somam 5,6% e os que sequer terminaram o ensino fundamental, 46%.
Dentro desse contexto, observa-se que crianças e adolescentes que têm acesso à educação, à cultura, à convivência familiar, à profissionalização, e à realização de atividades adequadas à sua faixa etária, têm muito mais chances de se desenvolverem de maneira segura e de construírem um futuro promissor.
Frisa-se: o trabalho não deve ser visto como alternativa ao crime. O que se deseja para o adolescente nem é o ingresso na criminalidade, nem é o trabalho fora das condições já permitidas, mas sim a educação de qualidade e a qualificação profissional!
Outro ponto importante a ser destacado é que crianças e adolescentes não devem ser expostos a situações de trabalho infantil com a justificativa de que precisam trabalhar para o sustento da família.
Tal justificativa implica desviar a responsabilidade da família, da sociedade e do Estado em garantir as condições materiais, afetivas, sociais e psicológicas essenciais para que adolescentes tenham acesso e proteção aos direitos à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária (CRFB/88, art. 227).
Dessa forma, a PEC nº 18/2011, ao colocar a responsabilidade da subsistência da família sobre a criança ou o adolescente promove uma inversão de papéis, subvertendo, assim, a diretriz constitucional.
3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, a COMISSÃO NACIONAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - CONAETI, considerando os fundamentos apresentados, os dispositivos internacionais, constitucionais e legais citados, manifesta-se contrariamente à Proposta de Ementa à Constituição nº 18/2011, por ser incompatível com os princípios e normas que regem a proteção dos direitos da criança e do adolescente no Brasil, incluindo as normativas internacionais de que o Brasil é signatário.
[1] Fonte: https://anpt.org.br/images/attachments/article/9086/ Nota%20T%C3%A9cnica%20PEC%2018.2011%20ANPT%20ASSINADA-1.pdf
[2] Fonte: cadernos-de-atencao-integral-a-saude-do-trabalhador.pdf (www.gov.br)
[3] Fonte: https://smartlabbr.org/trabalhoinfantil/localidade/0?dimensao=cidentesTrabalhoSinan
[4] Fonte: https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/dois-milhoes-de-criancas-e-adolescentes-de-11-a-19-anos-nao-estao-frequentando-a-escola-no-brasil
[5] Fonte: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/06/12/internas_economia,601822/criancas-devem-trabalhar-para-fugir-do-crime-especialistas-negam.shtml