Flexibilização regulatória do contrato de seguros no Brasil. O Open Insurance como instrumento de alívio da tensão entre a autonomia da vontade e o dirigismo contratual
1. Introdução
Fugir do estado da natureza, da “guerra de todos contra todos” (bellum omnium contra omnes), eis a justificativa da filosofia hobbesiana para a formação do Estado. A necessidade do homem de livrar-se dos seus medos é o que teria constituído a gênese do Estado moderno, o mal necessário formado pelo consenso em torno da premência de se criar uma entidade mitológica intersubjetiva que desse guarida a certos valores de autopreservação. Dessa necessidade de autopreservação, o Estado, legitimado pela metáfora do contrato social ou pela “imposição divina”, passa a agir como porta-voz da vontade coletiva, contendo o espírito autodestrutivo e egoísta dos homens por meio do monopólio da força.
Por outro lado, lastreando-se nos ideais iluministas e dando suporte ideológico às lutas burguesas contra o absolutismo no século XVIII, forjou-se o liberalismo lockiano. Tais ideais liberalistas erigiram-se para contrastar e controlar o poder do Estado e, ao mesmo tempo, justificar o modo de produção que se desenvolvia, o capitalismo, baseado na livre iniciativa e no pleno respeito ao direito de propriedade. Propugnam, em síntese, que além e acima do Estado existe a liberdade do indivíduo em autodeterminar-se, em relacionar-se livremente com os seus iguais, em “ter” e “ser”, sem amarras ou violações aos seus direitos naturais, dentre os quais, o direito ao pleno exercício dos atributos da propriedade.
Assim, com o objetivo de estabilizar a permanente tensão entre o interesse de Estado e o exercício ilimitado das liberdades individuais, construiu-se historicamente a concepção de estado democrático de direito, em que a tirania do soberano cede passo ao império da lei, criada e historicamente adaptada segundo a vontade popular e aos fins propostos pelos cidadãos, expressos por meio da representação política viabilizada pelo sufrágio universal (BASTOS, 2000, p.157).
O estado democrático de direito desponta como um mecanismo político de conciliação entre a tentativa dos seres humanos em maximizar seus ganhos em um mundo de recursos escassos, com fundamento no princípio da igualdade material e no direito natural à liberdade, e a tendência ao controle sobre tais liberdades e sobre os escassos recursos por castas, famílias, senhores feudais ou pelo próprio Estado, ora cooptado pelos mais fortes, ora representado pelo mais bem dotados em termos econômicos.
O seu grande desafio consiste justamente no equacionamento entre o livre exercício das liberdades individuais e a preservação do interesse público, por meio de instrumentos jurídicos eficientes que possam manter a coerência e a integridade do sistema jurídico. Dentre tais instrumentos, destacamos, para os fins almejados por este trabalho, a aplicação do subprincípio ou princípio instrumental da proporcionalidade, o qual mantém uma relação de fungibilidade com o princípio da razoabilidade (BARROSO, 1998, p. 204).
Ocorre que o princípio da proporcionalidade, mesmo o considerando sob o consagrado enfoque analítico da doutrina alemã que identifica seus três elementos constitutivos - adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, vem sendo utilizado pelo Estado, no exercício do seu poder legiferante, administrativo e judicial, sem qualquer objetividade, despontando mesmo como uma válvula de escape para as mais diversas arbitrariedades, como escapatória argumentativa dentro da qual se pode legitimar outros interesses que se distanciam do público.
Nestes termos, visando reduzir o subjetivismo na aferição de quando é necessária e se é adequada a redução da amplitude do exercício da autonomia da vontade em prol da consecução do interesse público, sobreleva-se o critério jurídico-econômico da eficiência como mecanismo que pode evitar a ingerência desmesurada do Estado na esfera privada, ajudando-o, assim, na difícil tarefa de defender o interesse público sem afrontar direitos fundamentais mais caros.
De fato, a formação e aplicação do direito devem prezar pela busca incessante da eficiência, sem desprezar, evidentemente, as balizas éticas erigidas historicamente, alocando incentivos e responsabilidades segundo a lógica da relação positiva entre os benefícios e os custos agregados a uma dada situação (POLINSKY, 1989).
Assim, o presente trabalho tomará seguro como seu objeto de estudo para, analisando-se a flexibilização regulatória do contrato de seguro de dano levada a cabo pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, apresentar o open insurance como eficiente ecossistema tecnológico e de mercado, com grande potencial mitigador da tensão existente entre o exercício do direito de liberdade, projetada na teoria dos contratos no princípio da autonomia da vontade, e a tutela do interesse público pelo Estado, representada pelo dirigismo contratual concretizado por meio de regras legais e infralegais.
2. Autonomia da Vontade x Dirigismo Contratual
A autonomia da vontade, consectário do direito natural à liberdade, constitui-se em uma das facetas do princípio mais amplo da livre iniciativa, o qual diz respeito à possibilidade que todo o indivíduo tem de exercer uma atividade econômica privada por meio da livre criação de negócios jurídicos sem a interferência estatal. “Essa livre iniciativa é pautada, portanto, no individualismo jurídico, que tem sua base estrutural ligada ao princípio da autonomia da vontade, assim como propôs Kant” (DUQUE, 2007, p. 41).
Baseia-se o princípio da autonomia privada na faculdade que têm os indivíduos de criar relações entre si, determinando direitos e deveres mútuos, com a finalidade de ter satisfeita a sua vontade. Fundamenta-se na autodisciplina, ou seja, na prerrogativa dos particulares de disciplinarem as suas relações intersubjetivas, sem a intervenção estatal (CAMINHA e LIMA, 2008, 205-206).
Importante destacar que a liberdade de contratar se manifesta sob tríplice aspecto, a saber:
- pela faculdade de contratar e não contratar, isto é, pelo arbítrio de decidir, segundo os interesses e conveniências individuais, se e quando se estabelecerá com um outro um negócio jurídico contratual;
- pela liberdade de escolha da pessoa com quem contratar; e
- pela liberdade de fixar o conteúdo do contrato, redigindo suas cláusulas “ao sabor do livre jogo das conveniências dos contratantes” (THEODORO JÚNIOR, 1999, p. 11).
Ocorre que extremismos e exacerbações evidenciados no Estado Liberal, baseados em seus axiomas clássicos - individualismo, senso de igualdade plena dos contratantes e autonomia privada absoluta, geraram a necessidade de uma intervenção do Estado nas convenções particulares (CAMINHA e LIMA, 2008, 204-205). Por conta das transformações históricas que eclodiram na primeira metade do século XX (guerras mundiais, revoluções comunistas), o Direito Privado reage positivamente a esse influxo moralizador, acolhendo restrições à autonomia da vontade e limitando a liberdade de contratar.
Segundo Humberto Theodoro Júnior (1999, p. 12) duas limitações sempre foram opostas ao princípio da liberdade de contratar, as regras legais de ordem pública e os bons costumes, de maneira que a vontade, malgrado possa amplamente determinar a celebração do contrato e o seu conteúdo, não pode fazê-lo contrariando aquilo que o legislador disciplinou como matéria de ordem pública. O mesmo autor afirma que “por meio das leis de ordem pública, o legislador desvia o contrato de seu leito natural dentro das normas comuns dispositivas, para conduzi-lo ao comando daquilo que a moderna doutrina chama de dirigismo contratual, onde as imposições e vedações são categóricas, não admitindo possam as partes revogá-las ou modificá-las”.
A supremacia da ordem pública ganha corpo como princípio informativo do direito dos contratos, vedando os pactos contrários à lei e aos bons costumes e introduzindo, ao lado das estipulações livres, toda uma série de normas específicas que as partes não podem derrogar convencionalmente (GUERREIRO, 1978, p. 78). O Estado volta-se para a sua concepção social, em que a liberdade contratual se torna limitada, em nome do protecionismo do interesse público e de um substancial equilíbrio entre os contratantes. A igualdade jurídica não pode prevalecer diante da desigualdade fático-econômica. Assim, necessário se torna o dirigismo contratual por parte do Poder Público, para assegurar equilíbrio de forças entre os particulares (CAMINHA e LIMA, 2008, 205).
Várias podem ser as formas de intervenção do Estado na esfera privada, dentre as quais se destacariam: i) o contrato regulamentado, ou seja, o pacto privado cujas condições gerais se acham previamente delimitadas pelo Estado, como na hipótese do contrato de seguro até o advento de normas disposições regulatórias analisadas logo abaixo; ii) a definição subjetiva do contratante, como no caso da intermediação bancária que só pode ser realizada por instituição financeira devidamente autorizada pelo Banco Central; iii) restrições a inter-relacionamentos pessoais dos contratantes, por meio de regras concorrenciais; e iv) as autorizações ou registros governamentais.
Essa intervenção não pode se dar arbitrariamente, com base em critérios pessoais das autoridades competentes. Porquanto instituída pela Constituição e regulada por leis federais que disciplinam as medidas interventivas e estabelecem o modo e forma de sua execução, as intervenções devem sempre estar condicionadas ao atendimento do interesse público e ao respeito dos direitos individuais garantidos pela mesma Constituição (MEIRELLES, 1977, p. 542).
Assim, quem sofre a ingerência por parte do Estado em seu empreendimento privado, fora das hipóteses autorizadas na Constituição, pode invocar o princípio da livre iniciativa para, em sede judicial, invalidar e sustar os defeitos da indevida intervenção (BARROSO, 1996, p. 159).
A intervenção direta do Estado nas relações de direito privado não deve representar, por outro lado, um agigantamento do direito público em detrimento do direito civil. Na verdade, “a perspectiva de interpretação civil-constitucional permite que sejam revigorados os institutos de direito civil, muitos deles defasados da realidade contemporânea e por isso mesmo relegados ao esquecimento e à ineficácia, repotencializando-os, de molde a torná-los compatíveis com as demandas sociais e econômicas da sociedade atual” (TEPEDINO, 1999, p. 21).
Limites devem ser impostos ao Estado, mas o argumento da proteção ao interesse público desponta sempre irresistível, sendo necessária a estipulação de regras de direito limitadoras do arbítrio ou do puro capricho, exigindo-se, acima de tudo, “uma receita de coerência e de plausibilidade na atuação do editor normativo, esteja ele sediado no Poder Legislativo ou nas multiformes agências do Executivo” (DUQUE, 2007, p. 132).
Nesse contexto, entende-se que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem dar o tom da coerência e da plausibilidade dos atos de intervenção do Estado nas relações privadas, garantindo-se a autonomia da vontade em situações em que a ingerência estatal demonstre ser desnecessária ou inadequada e ineficiente.
3. Proporcionalidade e Razoabilidade
Dentro do nosso sistema constitucional “tendencionalmente principialista” (CANOTILHO, 1992, p. 1.089), destaca-se a proporcionalidade como importante princípio “consectário natural do Estado de Direito, como um seu aspecto intrínseco” (SLERCA, 2002, p. 25).
Segundo tal princípio, o meio empregado pelo Estado deve ser adequado e necessário para alcançar o objetivo procurado. Considera-se o meio adequado quando com seu auxílio se pode alcançar o resultado desejado; é necessário, quando o Estado não poderia ter escolhido um outro meio, igualmente eficaz, mas que não limitasse ou limitasse da maneira menos sensível o direito fundamental (BONAVIDES, 1996, p. 372).
Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, o pressuposto da adequação exige que as medidas interventivas adotadas se mostrem aptas a atingir os objetivos pretendidos, enquanto o requisito da necessidade ou da exigibilidade significa que nenhum meio mais gravoso para o indivíduo pode se revelar igualmente eficaz na consecução dos objetivos pretendidos (MENDES, 1998, p. 39).
Tal princípio surgiu na França pós-revolucionária, com base na doutrina do excés ou détournement de pouvoir do controle judicial do poder de polícia, vindo a se desenvolver mais de meio século depois da sedimentação do princípio da razoabilidade no sistema norte-americano sob várias denominações, dentre elas a “proibição de excesso” ou “menor restrição possível” (SLERCA, 2002, p. 132).
É também possível associar os princípios da proporcionalidade e o seu congênere, a razoabilidade, ao princípio da legalidade, dando origem ao princípio da reserva legal proporcional. “Por esta perspectiva, deve-se indagar não apenas sobre a admissibilidade constitucional da restrição eventualmente fixada (reserva legal), mas também sobre a compatibilidade das restrições estabelecidas com o princípio da proporcionalidade”. (SLERCA, 2002, p. 28)
Além disso, a proporcionalidade ganha especial relevo na proteção do postulado constitucional imanente, qual seja, o princípio da proteção ao núcleo essencial, segundo o qual há que se evitar o esvaziamento do conteúdo do direito fundamental mediante estabelecimento de restrições descabidas, desmesuradas ou desproporcionais (MENDES, 1998, p. 35). Nesse mesmo sentido leciona Konrad Hesse (1998, p. 268), para quem não pode prevalecer regra onde um direito fundamental é limitado com motivo insuficiente, porque uma tal limitação não pode ser proporcional e que a proibição de limitações desproporcionais efetua também uma proteção absoluta do núcleo essencial dos direitos fundamentais.
Com a utilização do princípio da proporcionalidade dá-se aplicabilidade ao que Konrad Hesse (1998, p. 264) chama de proteção contra “escavação interna dos direitos fundamentais”, evitando-se o aproveitamento abusivo das reservas legais, de maneira que os direitos fundamentais possam cumprir plenamente a sua função objetiva.
Saliente-se para o fato de que a vinculação do princípio da proporcionalidade ao Direito Constitucional ocorre por via dos direitos fundamentais, ganhando prestígio e difusão tão larga quanto os outros princípios consagrados, principalmente o princípio da igualmente. Tem, ainda, a força de complementar o princípio da reserva legal e operacionalizar/otimizar o estado democrático de direito. Paulo Bonavides (1996, p. 364) ressalta que o princípio da proporcionalidade não é expresso, porquanto pertence à natureza mesma do Estado de Direito, despontando como um princípio geral de Direito Constitucional.
Malgrado desponte a proporcionalidade como critério contemporizador entre os direitos fundamentais e o poder estatal, avaliando-se caso a caso quando se justifica a intervenção do Estado (SLERCA, 2002, p. 91-92), tal princípio, principalmente no que diz respeito ao entendimento no que concerne ao elemento “adequação”, tem-se demonstrado insuficiente para fundamentar as decisões do Estado quanto ao modo e à medida de sua intervenção nas relações contratuais travadas entre os particulares.
Na dificuldade de se dosar a medida interventiva, o Estado tende a optar por aquela que supostamente protege o “interesse público”, ainda que tal medida ceife por completo ou diminua substancialmente direitos individuais de importância fundamental. Nesse sentido, entendemos que o critério da eficiência há de ser levado em consideração para a medição da adequação e da necessidade da medida interventiva, ou seja, há que se sopesar racionalmente os ganhos obtidos com a medida interventiva e as perdas provocadas no conjunto dos direitos individuais que sofreram limitação.
4. Eficiência
Conforme acima nos referimos, eficiência, no sentido econômico do termo, corresponde à relação entre os benefícios e os custos agregados a uma dada situação. Em termos mais elaborados, a ciência econômica nos fornece dois tipos de eficiência: a) a eficiência de Pareto ou ótimo de Pareto, segundo a qual não há mudança que melhore a situação de um agente sem piorar a situação de pelo menos um outro agente; e b) eficiência de Kaldor-Hicks, de acordo com o qual se uma situação gera um excedente total maior do que outra, ou seja, o ganho dos vencedores excede o prejuízo dos perdedores, ela é vista como mais eficiente que a outra (PINHEIRO e SADDI, 2005, p. 121).
O direito importou a noção de eficiência das ciências econômicas, porém sob um enfoque extremamente restrito ao direito administrativo. Assim, o princípio da eficiência, explicitado no caput do artigo 37 da Constituição Federal é apreendido pela doutrina administrativista sob dois aspectos: “pode ser considerado em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados; e em relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública, também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público” (DI PIETRO, 2008, p. 78).
O princípio da eficiência bem que poderia ser utilizado de maneira mais ampla no direito, abrangendo as hipóteses de intervenção do Estado no domínio econômico, em especial na sua intervenção regulatória nas relações contratuais privadas. Assim, antes de se pensar na edição de qualquer norma que tivesse a potencialidade de atingir a autonomia da vontade dos contratantes e mesmo nas hipóteses de criação de normas supletivas, o Estado deveria fazer o esforço de verificação da adequação e necessidade da medida (aplicação do princípio da proporcionalidade), louvando-se de critérios axiológicos e do critério da eficiência.
Respeitadas as balizas éticas e morais e os interesses públicos em jogo, por meio da aplicação do critério da eficiência, o Estado deve verificar a adequação da medida de intervenção contratual vis-à-vis a obtenção ou não de um ótimo de Pareto ou de um excedente positivo, ainda que terceiros venham a ser prejudicados (eficiência de Kaldor-Hicks). Ao depois, segundo as regras de justiça distributiva albergadas pelo sistema jurídico em questão, o Estado incentivará a distribuição ótima dos excedentes. Em suma, o Estado deve buscar a “eficiência social” das transações comerciais (COTTER e ULEN, 2010, p. 26) para que o interesse público seja de fato alcançado.
Além disso, o Estado deve buscar o que os economistas chamam de “contrato perfeito”, ou seja o contrato completo, no qual “toda contingência é prevista; o risco associado a ela é alocado eficientemente entre as partes; todas as informações relevantes foram comunicadas”; no qual “cada recurso é alocado à parte que mais o valoriza; cada risco é alocado à parte que pode arcar com ele ao menor custo; e as condições esgotam a possibilidade de ganho mútuo mediante a cooperação entre as partes” (COTTER e ULEN, 2010, p. 229).
As políticas de Estado, por sua vez, consistem na escolha das normas legais, procedimentos e estruturas administrativas que maximizem o bem-estar nacional (COASE, 1988, p. 28). O principal meio disponível para o governo perseguir o contrato perfeito no estado democrático de direito consistente na mudança das leis e/ou das normas infralegais. As formas de implementação desse objetivo pode variar bastante; assim, é possível: i) modificar os direitos e deveres que podem ser livremente contraídos pelos indivíduos; ii) aumentar ou diminuir o custo das transações, por meio da alteração de certas exigências para celebrar um negócio jurídico exequível; iii) aumentar as penalidades relacionadas ao descumprimento de certas obrigações contratuais; iv) alterar as normas processuais, aumentando a velocidade e a eficácia do cumprimento dos contratos; e iv) estipular impostos ou subsídios para estimular/desestimular certos comportamentos.
As medidas intervencionistas estatais nas relações contratuais privadas devem incentivar a alocação mais eficiente dos riscos, reduzir os custos de transação e as externalidades, bem como aumentar o nível de informação dos agentes envolvidos. Nesse sentido, com base em Richard Posner (2003, p.98) e em Cooter e Ulen (2010, p. 210-225), pode-se enumerar as seguintes finalidades do direito dos contratos e da regulação infralegal, ou seja, os objetivos que o Estado deve ter em mente antes de admoestar a autonomia da vontade dos contratantes:
- possibilitar que as pessoas cooperem, convertendo negócios jurídicos não cooperativos em negócios jurídicos cooperativos;
- assegurar um compromisso ótimo de cumprimento das obrigações assumidas no contrato;
- assegurar uma confiança ótima entre as partes;
- minimizar os custos de transação;
- evitar oportunismos;
- inserir termos eficientes nos instrumentos contratuais;
- evitar causas de nulidade no processo de contratação;
- alocar risco para a parte que tenha maior capacidade de suportá-los;
- reduzir os custos das disputas envolvendo a quebra dos contratos; e
- incentivar a revelação eficiente de informações.
Verifica-se, conforme enumerado nos dois últimos parágrafos acima, que o menu à disposição do Estado para intervir na esfera da liberdade privada de contratar é imenso. A escolha do momento e da forma de intervenção, por sua vez, vai depender da análise da necessidade e da adequação (critério da proporcionalidade) de cada uma das medidas, de maneira que se preserve o interesse público motivador de tal intervenção com o menor prejuízo ao direito individual em jogo.
Nesse contexto, o presente trabalho parte da hipótese de que a intervenção do Estado por meio de incentivos e mecanismos coercitivos de disseminação da informação, reduzindo as assimetrias informacionais, desponta, dentre as várias hipóteses interventivas, como mecanismo mais eficiente para reduzir as desnecessárias invasões estatais no domínio das relações contratuais.
5. Flexibilização Regulatória do Contrato de Seguros no Brasil – Resolução CNSP nº 407/21 e Circular SUSEP nº 621/21
O contrato de seguro sempre foi muito regulado, dirigido e mal padronizado no Brasil.
Forjada pelo Decreto-Lei nº 73/66, editada na ditadura militar e recepcionada pela Constituição de 1988 como lei complementar, a indústria de seguros esteve acorrentada até 2007 pelo monopólio do Instituto de Resseguro do Brasil – IRB, o qual, com base no revogado artigo 42 do Decreto-Lei, tinha a inusitada “finalidade de regular o cosseguro, o resseguro e a retrocessão, bem como promover o desenvolvimento das operações de seguro”.
Durante o monopólio estatal predominou a comoditização das coberturas e produtos, com clausulados padronizados e engessados, tarifas ditadas pelo ressegurador monopolista e todos os stakeholders convenientemente imobilizadas pelas benesses do Estado. O segurado, nesse contexto, refém do marasmo, era obrigado a aderir a esquemas de alocação e pulverização de riscos anacrônicos e, mesmo quando algum influxo da experiência internacional ocorria, o mercado brasileiro se restringia a traduzir literalmente os respectivos clausulados.
Os dados demonstram o atraso histórico brasileiro.
De acordo o Banco Mundial, no Brasil, a razão entre o volume de prêmio de seguro de vida e PIB em 2019 foi de 0,37%, bem atrás dos demais países Latino-Americanos, a exemplo de Chile (2,84%), Colômbia (1,17%) e México (1%), e muito atrás de países desenvolvidos, como França (5,87%), EUA (3,35%), Alemanha (3,06).[1]
O Brasil possui uma insurance density (prêmio per capita) de USD 281[2], bem abaixo de outros países em desenvolvimento como Chile (UDS 673) e Uruguai (USD 449), e (novamente) muito aquém de outros países em desenvolvimento de outras regiões (África do Sul e Malásia, por exemplo, ostentam a marca de USD 840 e USD 518, respectivamente)[3].
No Brasil, o seguro está longe de cumprir o papel de alavanca e mecanismo de suporte ao desenvolvimento. Segundo dados divulgados pela Swiss Re no Relatório Sigma nº 4 - World insurance: riding out the 2020 pandemic storm, a penetração do seguro no Brasil, ou seja, a relação entre o total de prêmios e o PIB é de, apenas, 4,03%, frente a uma média mundial de 7,23%.
Os dados mostram que o Brasil se encontra longe de atingir o potencial ótimo de penetração de seguros na sociedade, a exemplo de países mais desenvolvidos como Reino Unido (10,3%) e França (9,21%), e mesmo frente a países em desenvolvimento como África do Sul (13,4%), Namíbia (10,44%), Taiwan (19,97%) e Coreia do Sul (10,78%).
Se excluirmos seguro de vida sob o regime de capitalização e saúde suplementar, a penetração dos seguros no Brasil, chega a, apenas, 1,9% do PIB[4].
Nesse contexto, o CNSP e a SUSEP vêm se apresentando, nos últimos anos, como os grandes catalisadores de inovação para o mercado brasileiro, impulsionando-o a pensar no contexto de um mundo fluido, ágil e desafiador, mas repleto de oportunidades, destacando-se as seguintes iniciativas por eles capitaneados:
- a criação de segmentos de entidades supervisionadas, com a redução dos encargos regulatórios para entidades reguladas de menor porte/complexidade (Resolução CNSP n° 388/2020);
- permissão para que insurtechs atuem temporariamente em ambiente regulatório simplificado, o chamado sandbox regulatório (Resolução CNSP n° 381/2020);
- criação do marco regulatório para emissão de Instrumentos Ligados a Seguros – ILS (insurance linked security) e criação de resseguradores de propósito específico – RPE, colocando o Brasil como um possível hub do mercado de dívida (Resolução CNSP n° 396/2020);
- permissão de seguros on-demand ou intermitentes (Circular SUSEP n° 592/2019);
- permissão para que entidades de previdência complementar e operadoras de planos de saúde contratem resseguro (Resolução CNSP n° 380/2020);
- criação de regras e princípios de ética e transparência aplicáveis aos intermediários (Resolução CNSP n° 382/2020);
- criação do Sistema de Registro de Operações Resolução CNSP n° 383/2020;
- definição de regras para emissão de dívida subordinada e viabilização de dívidas ordinárias, possibilitando a melhora da estrutura de capital dos entes regulados (Resolução CNSP n° 391/2020);
- reformulação do marco sancionatório com foco preventivo e não punitivo (Resolução CNSP n° 393/2020);
- simplificação da contratação de seguro no exterior (Circular SUSEP n° 603/2020);
- finalmente, mas não menos importante, a flexibilização e simplificação das regras de seguros patrimoniais, com a consequente extinção de produtos estandardizados e engessados, tanto no que diz respeito aos grandes riscos quanto aos seguros massificados (Resolução nº 407/2021 e Circular SUSEP n° 620/2020).
A Resolução CNSP nº 407, de 29 de março de 2021, que versa sobre os princípios e as características gerais para a elaboração e a comercialização de contratos de seguros de danos para cobertura de grandes riscos[5], e a Circular SUSEP nº 621, de 12 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre as regras de funcionamento e os critérios para operação das coberturas dos seguros de danos, são marcos importantes da flexibilização regulatória dos contratos de seguros no Brasil.
O CNSP, sem se descurar do mandamento contido no artigo 32, inciso IV, do Decreto-Lei nº 73/66[6], adotou postura liberal, ao criar segmentação do mercado, divisando o que seria considerado “grandes riscos”, em que se pressupõe uma certa igualdade de condições entre as partes contratantes, daquilo que seria considerado seguro massificado, ou seja, inserido na cadeia de consumo e que conta com uma contraparte usualmente mais vulnerável técnica e economicamente.
Para os grandes riscos, no âmbito da Resolução nº 407/21, o CNSP abandona a micro regulamentação e a padronização dos clausulados dos contratos de seguro em prol de um approach principiológico, ao enaltecer (a) a liberdade negocial ampla; (b) a boa-fé; (c) a transparência e objetividade nas informações; (d) o tratamento paritário entre as partes contratantes; (e) estímulo às soluções alternativas de controvérsias; (f) intervenção estatal subsidiária e excepcional na formatação dos produtos.
Por outro lado, a norma indica os temas que necessariamente devem ser regrados pelas partes no âmbito dos contratos de seguros (deixando livre a combinação de ramos diversos), destacando-se, dentre os doze itens taxativamente elencados, os riscos cobertos e excluídos, os limites máximos de responsabilidade da seguradora, as hipóteses de perda de direito e o procedimento de renovação da apólice, sendo importante notar que as condições das apólices e as notas técnicas atuariais nem sequer precisam mais ser registrados na SUSEP.
No que tange aos seguros massificados (Circular SUSEP nº 621/21), a SUSEP segue a mesma linha de flexibilização, extinguindo os produtos padronizados e dando ampla margem de manobra para que os agentes de mercado possam criar e combinar produtos de seguro de danos, embora seguindo certos elementos mínimos obrigatórios nas condições contratuais, a exemplo daqueles relacionados à vigência e renovação, atualização e alteração de valores, pagamento de prêmio e de indenizações.
Tais mudanças introduzidas pelo CNSP e pela SUSEP encontram respaldo na proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica, nos termos do inciso IV do caput do artigo 1º e do parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal, compatibilizando-os com a atuação do Estado como agente normativo e regulador, conforme caput do artigo 174 também da Constituição.
Na concretização dos referidos mandamentos constitucionais, o poder executivo, sem se descurar (nesta quadra especificamente, registre-se) do estado democrático de direito, nitidamente fez a opção política pelo liberalismo mais agudo na regulação e supervisão do sistema nacional de seguros privados, com esteio na recém promulgada Lei da Liberdade Econômica – Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica.
Vale ressaltar que a Lei da Liberdade Econômica reafirma os pilares básicos do capitalismo e passa mensagem clara aos agentes de mercado e aos reguladores em particular ao determinar que as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas devem ser interpretadas em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade (artigo 1º, §2º), bem como ao estatuir o princípio “da intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas” (artigo 2º, III).
Nesse contexto, ainda como garantia da livre iniciativa, a Lei da Liberdade Econômica traz, em seu artigo 4º, outros parâmetros para que os órgãos reguladores em todas as esferas da federação evitem o abuso do poder regulatório tais como “exigir especificação técnica que não seja necessária para atingir o fim desejado”, “aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios” e “redigir enunciados que impeçam ou retardem a inovação e a adoção de novas tecnologias, processos ou modelos de negócios, ressalvadas as situações consideradas em regulamento como de alto risco”;
Finalmente, a prevalência da autonomia da vontade sobre o dirigismo contratual ganha reforço codificado, com a introdução do parágrafo único no artigo 421 do Código Civil pela Lei da Liberdade Econômica, ao prescrever que “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual” no contexto do princípio da função social do contrato.
Do exposto, parece-nos que o CNSP e a SUSEP, ao regularem o sistema nacional de seguros privados, não poderia se desviar da opção política do Estado brasileiro, ao, sem abrirem mão da necessária supervisão prudencial, puxar o bonde da inovação e flexibilizar os contornos do contrato de seguros, dando liberdade aos agentes para criarem novos produtos, combinar coberturas e mudar a experiência do cliente de seguros, sujeito acostumado com uma relação usualmente belicosa e do set it and forget it.
Ao realizar a necessária análise de proporcionalidade e razoabilidade para adoção do approach liberalizante descrito acima, o CNSP e a SUSEP se voltam para as variáveis macroeconômicas que dão conta da pouca penetração e pulverização dos seguros no país e seu tímido papel para o avanço da economia vis-à-vis o que se nota em outros países em desenvolvimento.
A pergunta que eles fazem (ou deveriam fazer), louvando-se da razão, seria: devemos nós, agentes reguladores, mantermos o status quo dirigista de décadas, calcada em um Decreto-Lei (nº 73/66) que funda o sistema nacional de seguros privados, forjado na ditadura militar, ou, diante dos avanços tecnológicos dos últimos anos e do influxo liberal em que vivemos, gerar um ambiente de flexibilidade e autonomia vigiada dos agentes, com estímulos diretos à inovação e atração de novos entrantes.
6. A resposta parece óbvia.
Na outra ponta, para checagem e concretização do parâmetro constitucional da proporcionalidade, os reguladores devem analisar sob o ponto de vista da eficiência se, com as mudanças que estão sendo implementadas, os ganhos obtidos com as medidas liberalizantes vis-à-vis as possíveis perdas provocadas no conjunto dos direitos individuais.
Importante se verificar, nessa senda, se as mudanças implementadas atingirão a eficiência de Kaldor-Hicks, de acordo com o qual, como vimos acima, uma dada situação gera um excedente total maior do que outra, ou seja, os ganhos dos “vencedores” (pulverização e penetração dos produtos, ampliação de portfólio de produtos, ingresso de novos entrantes, desintermediação, etc.) excede os prejuízos dos “perdedores” (imposição de cláusulas abusivas, vendas casadas abusivas, assimetria de informação, etc.).
A SUSEP e demais órgãos de fiscalização e repressão, nesse cenário, ao terem relativizado a fiscalização ex-ante, precisam incrementar a fiscalização ex-post por meio de ações preventivas e repressivas de combate a atitudes abusivas dos agentes econômicos e, acima de tudo, devem quebrar a natural assimetria informacional entre agentes econômicos com poderes técnico-econômicos naturalmente desiguais.
7. Assimetria de informação
Na maioria das vezes, as partes envolvidas em uma relação contratual carecem de informações essenciais sobre o negócio objeto da avença. “A falta de informações pode ter diversas causas. Às vezes, as pessoas mantêm ou sonegam informações a fim de obter vantagem na barganha. Às vezes, elas deixam de transmitir informações para economizar custos de comunicação” (COTTER e ULEN, 2010, p. 229). Por vezes, os participantes do negócio têm toda a informação necessária, mas o mercado não, o que pode gerar a disseminação de práticas anticoncorrenciais e fraudes, principalmente no que concerne às informações de segurança.
Importante salientar que, em geral, a lei não deve exigir que, indiscriminadamente, um agente econômico detentor de certa informação revele informações estratégicas para o mercado[7]. Entretanto, a lei deve exigir que tais agentes divulguem informações para contrapartes pouco informadas, equalizando a relação de forças entre elas, bem assim, deve exigir que sejam divulgadas informações quanto aos contratos que, mesmo potencialmente, possam causar externalidades.
Assim, temos que, ao invés de se criar normas que restrinjam direitos individuais em prol de um idealizado conceito de bem comum, desponta mais eficiente e mais justa a intervenção se o Estado criar mecanismos que facilitem a equalização de informações entre as partes envolvidas em uma relação negocial ou entre tais partes e o Estado, enquanto ente constitucionalmente criado para tutelar o interesse público.
Segundo Grundmann (2006, p. 2), em consonância com as decisões da Corte de Justiça Européia (CJE) e baseado nas liberdades fundamentais, é importante frisar que
as regras de informação devem ser preferidas sobre as regras imperativas substanciais, quando é possível dar informação útil e decisiva ao cliente. A tese analisada é que, de fato, o ponto central da legislação secundária da Comunidade Européia (CE) relacionada a contratos é descobrir e impor mecanismos informacionais inteligentes e, assim, aumentar e qualificar o espaço da autonomia da vontade.
Dentre uma das formas de melhoria da relação informacional entre as partes emerge o respeito à imposição de cláusulas gerais. Além desta modalidade, Grundmann (2006, p. 3) cita as “regulamentações restringindo a autonomia privada por um bem comum, principalmente econômico”. São bens comuns (common goods), por exemplos, “a estabilidade de uma moeda que pode ser protegida por uma proibição de cláusulas de indexação, ou a concorrência leal, que é protegida pela proibição de cartéis" (GRUNDMANN, 2006, p. 2-3).
Importante deixar claro, com GRUNDMANN (2006, p. 8), que há importante distinção entre regras imperativas de informação e regras imperativas substantivas. Estas últimas reduzem a gama de possibilidades do indivíduo em usar toda a sua liberdade de contratar, ou seja, de estabelecer com quem, quando e em que condições contratar. Afirma o autor, nesse contexto, que “uma norma imperativa substantiva pode ser justificada somente se a falha de mercado não puder ser corrigida por uma regra de informação”, principalmente porque tais regras de informação têm como função primordial permitir às partes tomar uma decisão livre, autônoma e potencializadora dos seus direitos individuais.
Ao exercer a sua competência com o espírito liberalizante, o CNSP e a SUSEP - esta sem abrir mão da atuação ex-post fiscalizadora e repressora -, devem utilizar regras imperativas de informação, permitindo, incentivando e criando estruturas democráticas para que as informações de mercado e dos produtos sejam circuladas, disponibilizadas e tratadas em benefício dos consumidores e com o seu expresso e informado consentimento, com estímulo à presença inovadora de novos players, a exemplo de iniciadores de seguros, agregadores, plataformas de comparação de preços, corretores nichados, marketplaces, bem como ao uso de tecnologias de blockchain e internet das coisas, dentre outras.
Sem embargo do adequado acompanhamento e monitoramento das operações de seguro, conjugados com mecanismos de punição exemplar, o Estado precisa ser o maior catalizador da quebra da assimetria de informação entre as partes e o próprio agente regulador do mercado de seguros, para que o afrouxamento da intervenção contratual não gere ineficiências, iniquidades e abusividades que historicamente despontam em ambientes desordenadamente desregulamentados.
É certo que a intervenção substantiva ao invés da intervenção informativa no mercado de seguros não gerou até o momento “eficiência social”. Constata-se, de uma análise histórica e econômica da indústria de seguros no país (que merece uma melhor análise e aprofundamento científico, ressalta-se), que o uso exacerbado da regras de intervenção substantivas gerou perda de vantagem competitiva frente aos demais países, engessamento de produtos e serviços, altos custos de intermediação, concentração de mercado, barreiras a novos entrantes e entraves à confluência do mercado de seguros com os mercados financeiro e de capitais.
8. Open Insurance
O Sistema de Seguros Aberto - Open Insurance estava na agenda regulatória do CNSP e da SUSEP para 2021[8]. Assim, a reboque do open banking e mimetizando este ecossistema, após consultas públicas, o CNSP editou a Resolução nº 415, em 20 de julho de 2021, dispondo sobre a sua implementação, e a SUSEP, no mesmo dia, publicou a Circular regulamentando-a.
O Open Insurance pode ser compreendido como o ecossistema de amplo acesso e compartilhamento de dados e serviços entre as sociedades participantes, por meio de abertura e integração de sistemas no âmbito dos mercados de seguros, previdência complementar e capitalização, de maneira padronizada através de Application Programming Interface (APIs).
Vislumbra-se a sua criação no Brasil com fundamento em princípios que, de um lado, resguardam o direito dos titulares de dados e, de outro, permitem o fomento de um mercado relevante para o desenvolvimento do país e segurança das empresas e das famílias, quais sejam: interoperabilidade, integração com o open banking, reciprocidade, tratamento não discriminatório, qualidade dos dados, livre concorrência, livre iniciativa e segurança e privacidade.
Tendo o cliente como o centro do sistema, despontam como seus principais objetivos o incentivo à inovação, a promoção da cidadania financeira, o aumento da eficiência do mercado, a promoção da concorrência, tudo isso em um ambiente de compartilhamento de dados seguro, ágil, preciso e conveniente para os clientes.
Por meio do Open Insurance se vislumbra, conforme se depreende das normas recém editadas, dentro de um escalonamento em três etapas, a disponibilização de dados abertos de seguros (informações sobre canais de atendimento e sobre produtos); de dados pessoais de seguros, mediante consentimento expresso e informado de seus titulares (informação sobre cadastro de clientes, movimentações relacionadas com planos de seguros, previdência, assistência financeira e capitalização) e, finalmente, dados de serviços relacionados a seguros de uma forma geral.
Com a operacionalização do Open Insurance espera-se maior democratização de acesso à informação, facilidade de criação, combinação, contratação e portabilidade de produtos e serviços, desintermediação do mercado, redução de custos comerciais e administrativos e consequente redução dos valores de prêmios, facilidade e celeridade na regulação de sinistro e recebimento de indenizações, melhor experiência do cliente, consolidação de dados financeiros e securitários, geração de dados como insumo para melhoria de políticas públicas e facilitação da supervisão (suptech), dentre outros.
Nada disso poderá ser atingido, ao menos em tese, com a manutenção da histórica atitude intervencionista do regulador de seguros, ou seja, por meio de regras de intervenção substantivas, em que produtos e os contratos de seguro e de intermediação permaneçam engessados e sujeitos ao moroso e burocrático escrutínio prévio do supervisor, com obstáculos que os formulários padronizados naturalmente geram para a criatividade e eficiência dos agentes.
Por outro lado, sem o Open Insurance, como ecossistema informacional de amplo acesso e de grande fluidez, não se pode antever o sucesso de uma inciativa exponencialmente flexibilizadora como a operada pela SUSEP nos últimos anos, diante de um capitalismo tardio e desigual vivenciado no país, local onde graceja a ineficiência e a injustiça.
Em outras palavras, sem a abertura do mercado por meio do sistema de seguros aberto, em que a informação transite e se equalize de forma ampla, potencializando-se a livre concorrência e a competição, não vai tardar a manutenção e/ou criação de mais coberturas e exclusões iníquas, o descasamento entre as informações comerciais e as previstas nos documentos que suportam o contrato de seguro, a indesejada morosidade na regulação e liquidação do sinistro, a concentração do mercado e a excessiva intermediação, tudo a nos manter na vanguarda do atraso em matéria de seguros no mundo.
9. Conclusão
Diante da histórica contradição entre o dirigismo contratual e a autonomia da vontade, sempre se mostrou difícil encontrar um critério ou mecanismo ou sistema que pudesse, de forma eficiente, acomodar princípios tão antagônicos em prol do bem comum, do desenvolvimento econômico e da redução da desigualdade.
O movimento pendular entre um e outro vetor sempre nos levou a extremos. A desregulamentação do mercado financeiro nos países desenvolvidos, especialmente nos Estados Unidos, nos conduziu, em 2008, à maior crise do capitalismo de todos os tempos, ao passo que o dirigismo excessivo nos levou, em um passado recente, a experiências desastrosas de economias planificadas.
A tecnologia, nesse contexto, com o seu potencial de democratização da informação e redução de barreiras, pode e deve ser usada como ferramenta para reduzir os perigos de tal movimento pendular, operado ao sabor das predileções ideológicas de momento.
O Open Insurance, nesse contexto, a reboque do open banking e convergindo para o macro ambiente do open finance, nos parece o ecossistema ideal para equilibrar, amortecer e tirar o melhor da histórica tensão entre, de um lado, o liberalismo, a flexibilização e a autonomia contratuais e, de outro lado, a necessária intervenção estatal nos domínios econômicos e privados, tendo em vista a esperada redução da assimetria informacional que historicamente vem embaraçando o avanço dos seguros no Brasil.
Bibliografia
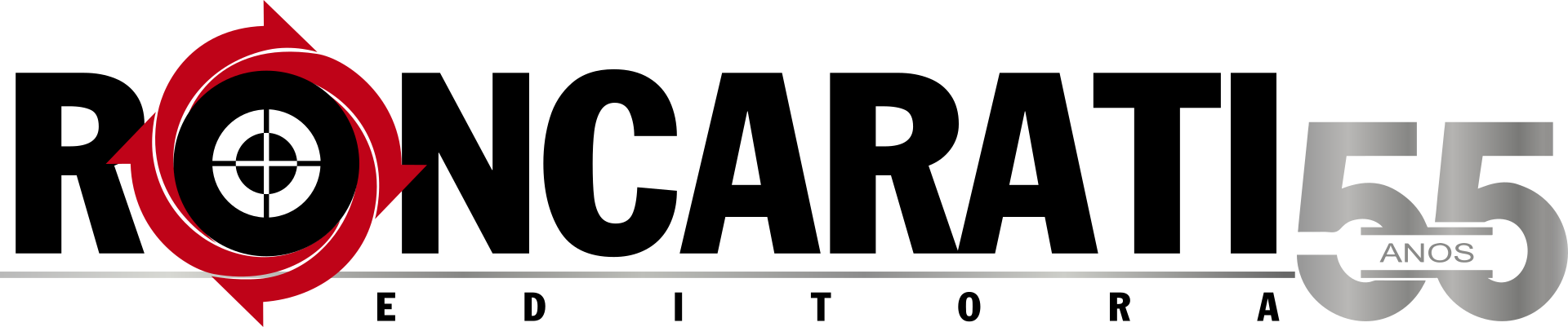

 Leia todos os artigos
Leia todos os artigos