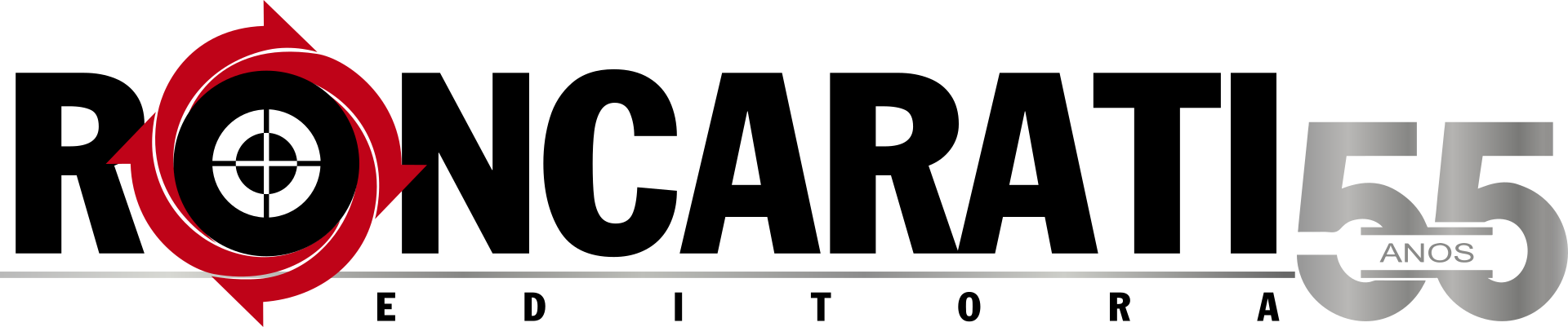|
Cassio Gama Amaral |
Christiana Carneiro da Rocha Castrioto |
Fernanda Dias de Almeida |
I. Introdução
O seguro garantia consolidou-se no Brasil a partir da década de 90 como um importante instrumento de segurança para o Estado na contratação de obras, serviços e compras. Posteriormente, com a sua mais ampla – e indispensável – aplicação, pôde satisfazer também a necessidade dos mais diversos setores da economia, minimizando contingências relacionadas a possíveis inadimplementos contratuais ou de outras obrigações de diversas naturezas.
Pelo seguro garantia, em apertada síntese e sem pormenorizar os detalhes específicos de suas inúmeras modalidades, o segurador obriga-se, nos termos e nos limites da apólice por ele emitida, mediante o pagamento do respectivo prêmio, a garantir o fiel cumprimento das obrigações (de dar e/ou de fazer) assumidas pelo tomador, em especial, na sua forma mais clássica, aquelas decorrentes do contrato garantido ou contrato principal celebrado entre este e o segurado.
Vale ressaltar que a apólice de seguro garantia é contratada pelo tomador, que paga o respectivo prêmio, sendo ela emitida pelo segurador em benefício do segurado, o qual não intervém na sua formação, tampouco lhe dá aquiescência expressa e escrita.
Assim, com a celebração do seguro garantia, o segurador assume parte dos riscos relacionados ao eventual descumprimento do contrato principal pelo tomador, pulverizando-os por meio de técnicas (res)securitárias. Evidente, portanto, a importância deste seguro para o desenvolvimento do país, em especial para a viabilização dos projetos de infraestrutura que tanto carecemos.
Nesse cenário, tal modalidade de seguro tem garantido o cumprimento de contratos relativos a operações e projetos complexos, envolvendo valores bastante expressivos, nos quais as partes (segurado e tomador) elegem a arbitragem como o método de solução das suas controvérsias.
Por outro lado, a experiência dos severos sinistros recentemente ocorridos no Brasil nos trouxe o desafio de lidar com as corriqueiras e indesejadas disputas paralelas entre, de um lado, segurado e tomador, no âmbito de procedimentos arbitrais sigilosos, e, de outro, no âmbito da jurisdição estatal, entre segurador e segurado, sem contar os litígios entre segurador e tomador sobre os direitos do primeiro emergentes do contrato de contragarantia.
Pois bem. A existência da relação jurídica tripartite sui generis segurador-segurado-tomador inerente ao seguro garantia, em que não se vislumbra, como vimos, um instrumento único no qual as partes manifestam expressa e simultaneamente sua vontade, incluindo a escolha do juízo arbitral para dirimir conflitos dele decorrentes, traz à tona importante discussão acerca da extensão objetiva da cláusula compromissória prevista no contrato principal para dirimir conflitos relativos à relação securitária.
II. O seguro garantia como contrato coligado ao contrato principal
Antes de abordar a questão da possibilidade (ou não) da aplicação da teoria da extensão objetiva da cláusula compromissória ao seguro garantia, é preciso responder a seguinte indagação: a apólice de seguro garantia pode ser considerada um contrato coligado ao contrato principal? Sem uma resposta positiva a essa pergunta, todo e qualquer questionamento sobre a teoria da extensão objetiva se mostra inviável.
De acordo com a definição de Francisco Marino, contratos coligados são aqueles que “por força de disposição legal, da natureza acessória de um deles ou do conteúdo contratual (expresso ou implícito), encontram-se em relação de dependência unilateral ou recíproca”[1]. Nessa linha, a coligação tem como principais características “a pluralidade de negócios jurídicos e a unidade de operação econômica”[2].
Em outras palavras, contratos coligados são aqueles que, em algum grau, possuem relação de acessoriedade, dependência ou coordenação, podendo esta última ser centrífuga (a relação se expande a partir de um centro comum) ou associativa (os contratos congregam esforços para o alcance de um objetivo comum)[3].
Vê-se, assim, que o instituto da coligação está presente quando existe uma interligação funcional ou econômica entre contratos estruturalmente autônomos, em que cada contrato possui uma função específica dentro da operação. Logo, o nexo finalístico, essencial para a classificação de contratos coligados, verificar-se-á quando o grupo de contratos coexistir para alcançar um único objetivo, a finalidade econômica comum aos interesses das partes[4].
Feitos esses esclarecimentos, passa-se a analisar as características do seguro garantia, de maneira que se possa verificar se existe relação de coligação entre ele e o contrato principal.
Como se sabe, o seguro garantia é o instrumento pelo qual o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado relativo ao fiel adimplemento de obrigação assumida pelo tomador no contrato principal.
É importante ressaltar que, no seguro garantia, por ocasião da subscrição do risco, a seguradora analisa os aspectos econômico-financeiros e operacionais da operação ou projeto objeto do contrato principal, sendo a capacidade de performance do tomador elemento de extrema importância. Renato Buranello destaca que as 3 (três) principais ordens de análise do risco dizem respeito (i) à capacidade econômico-financeira e expressão empresarial do tomador, (ii) à competência e capacidade técnica do tomador de poder e saber realizar aquilo a que se propõe e (iii) ao caráter e idoneidade do tomador[5].
Nesse sentido, Gladimir Poletto afirma que o seguro garantia é uma relação jurídica fundada na ajuda recíproca, por meio do qual as partes pretendem, de forma objetiva, concretizar o projeto iniciado[6]. Percebe-se, assim, que a apólice de seguro garantia é tailor-made para o contrato principal, por ser desenhada especificamente para obrigação principal que vai garantir[7], de forma a permitir a plena conclusão do contrato principal mesmo em caso de inadimplemento do tomador.
Com base nas premissas acima, é possível concluir que o seguro garantia pode ser classificado como contrato coligado por coordenação associativa, de acordo com a definição de Rodrigo Leonardo, uma vez que o seguro garantia congrega esforços com o contrato principal para que seu objeto seja integralmente concluído.
Ademais, como o seguro garantia muitas vezes é exigido do tomador como condição precedente no próprio contrato principal ou, ainda que não condicione a sua existência ou eficácia, é exigido do tomador como condição de manutenção do negócio, pode-se dizer que há união voluntária entre referidos contratos, em razão da existência de cláusula contratual que disciplina expressamente o vínculo intercontratual[8].
Em razão disso, a doutrina especializada entende que o seguro garantia pode ser classificado como contrato coligado ao contrato principal, pois ambos buscam o mesmo objetivo, qual seja, a efetividade do objeto do contrato principal[9].
III. O seguro garantia e a extensão objetiva da cláusula compromissória em contratos coligados
No Brasil, a extensão da cláusula compromissória a partes não signatárias é amplamente discutida, em razão do princípio da autonomia da vontade que rege a arbitragem, segundo o qual uma parte não pode ser a ela submetida se não tiver anuído expressamente a tal forma de solução de litígios.
A controvérsia sobre o tema gira em torno da forma de manifestação da vontade/consentimento em relação à cláusula arbitral. Há quem entenda que deve ser aplicada uma interpretação restritiva, apenas vinculando-se à convenção de arbitragem aqueles que expressamente a pactuaram e manifestaram sua vontade por escrito[10]. Por outro lado, os que defendem a possibilidade de extensão dos efeitos da cláusula compromissória entendem que o consentimento vai além da formalidade da assinatura da convenção de arbitragem, podendo ser demonstrado, inclusive, pela conduta da parte[11].
A esse respeito, o artigo 4º, § 1º, da Lei de Arbitragem exige, apenas, que a cláusula arbitral seja estipulada por escrito, não prevendo requisitos e formas especiais para a manifestação do consentimento.
No entanto, ainda não se alcançou um posicionamento pacificado sobre o assunto. Prova disso é o recente acórdão de abril deste ano que dividiu a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, a qual decidiu, por maioria, não ser necessária a assinatura das partes para que uma cláusula arbitral tenha validade, bastando a comprovação do consentimento[12]. Em sentido contrário, os ministros divergentes entenderam não existir elementos suficientes para concluir a intenção das partes de renunciar ao Poder Judiciário.
Da mesma forma, no que concerne à extensão objetiva da cláusula compromissória ao seguro garantia, é importante que se verifique a real intenção das partes em relação ao objetivo comum consubstanciado no grupo de contratos.
De modo diverso, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, baseado em interpretação literal dos textos contratuais e sem analisar a existência de coligação entre os contratos, já decidiu que cláusula compromissória prevista no contrato de arrendamento de terminal portuário não teria seus efeitos estendidos ao seguro garantia[13].
Mas já há casos em que se admitiu a extensão objetiva da cláusula compromissória a contratos coligados, com base no entendimento de que o cerne da operação interligava os contratos[14] ou, ainda, de que a intenção das partes era realizar uma transação econômica única, o que constituiria um grupo de contratos[15].
É inegável que, em caso de múltiplos contratos com partes diferentes, o cenário ideal para garantir a atribuição de pleno efeito à cláusula arbitral sobre todas as partes é aquele onde as intenções das partes estão devidamente manifestadas, por escrito, de forma clara e completa, de preferência, em documento assinado por todas as partes ou em documentos compatíveis que façam referências cruzadas.
No caso do seguro garantia, por exemplo, o ideal seria que a cláusula compromissória do contrato principal estabelecesse expressamente a coligação com a cláusula compromissória da apólice – as quais deverão, naturalmente, possuir redações compatíveis[16] –, a fim de garantir o consentimento por escrito do segurado de submeter eventuais conflitos com a seguradora à arbitragem, uma vez que, como visto, aquele não contrata ou assina a apólice e o segurador, por sua vez, não assina o contrato principal.
Outras alternativas podem ser consideradas para garantir a submissão de todas as partes à arbitragem, como, por exemplo, (i) a assinatura, pelo segurado, segurador e tomador, de espécie de carta de compromisso, que faça menção aos contratos que instrumentalizam a operação e reproduza ipsis litteris as cláusulas compromissórias constantes do contrato principal e da apólice do seguro garantia, de forma a obter o consentimento, por escrito, das três partes da relação jurídica triangular; ou (ii) a imposição de obrigação ao tomador, no contrato principal, de providenciar a inclusão de cláusula compromissória na apólice quando de sua contratação, o que decorreria de solicitação direta e expressa do segurado em relação à submissão de conflitos decorrentes da apólice à arbitragem, podendo ser suficiente para evidenciar seu consentimento.
IV. Conclusão
Buscou-se demonstrar que há elementos doutrinários suficientes para admitir a classificação do seguro garantia como contrato coligado ao contrato principal para, ao menos, trazer fundamentos às discussões preliminares sobre o tema da aplicabilidade da teoria da extensão objetiva da cláusula compromissória no âmbito do seguro garantia.
Nota-se que a jurisprudência nacional e internacional ainda é bastante cautelosa quanto à aplicação da extensão objetiva da cláusula compromissória, tendo ela buscado sempre respeitar o consentimento expressamente dado pelas partes (seja por escrito ou por sua conduta) ou, em análise mais profunda, a real intenção das partes quando da estruturação de referida operação contratual e seus objetivos econômico-financeiros.
No caso do Brasil, especificamente, há ainda o claro receio de se interpretar de forma ampliativa a renúncia ao Poder Judiciário, razão pela qual se mostra necessária especial atenção na estruturação de operações garantidas e na redação dos diferentes instrumentos que as compõem, a fim de demonstrar claramente – caso seja esse o interesse das partes – a coligação entre os contratos e a aplicação geral e uniforme da cláusula compromissória.