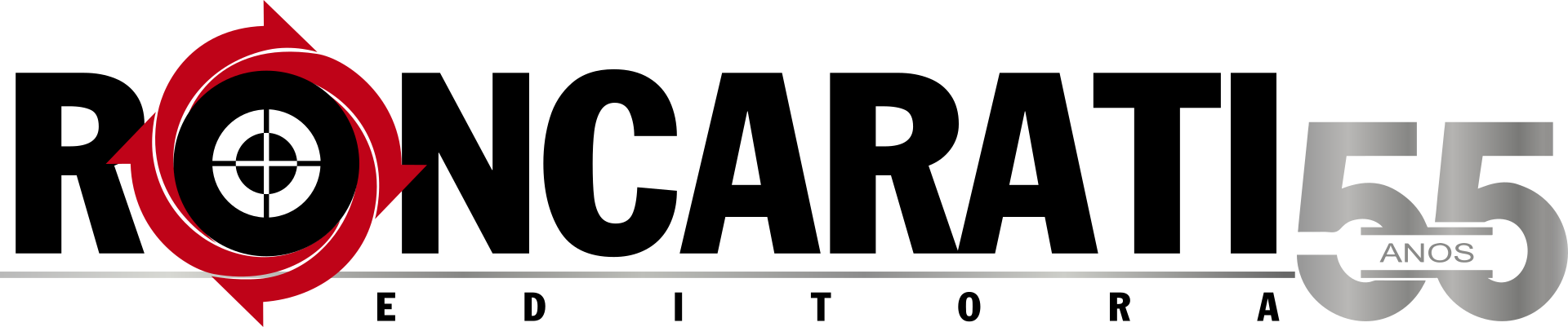Durante muito tempo o discurso dos gestores de renda variável no Brasil foi exaltar a característica da classe de ativos como um vetor de alta performance em janelas longas, contribuindo para a geração de superávit dos alocadores institucionais. “Vol é vida” foi uma frase extensamente reproduzida em discursos comerciais e nas redes sociais, à medida que se estimasse que a volatilidade e, consequentemente, risco da classe fosse mais do que compensada pelo seu retorno.
Tal análise, no entanto, acaba por se desfazer com muita facilidade à medida que se analise os retornos desta classe contra os benchmarks clássicos no Brasil. A renda variável, medida pelo índice do Ibovespa, acabou por ter retornos muito aquém do esperado tanto em janelas longas, como em curtas. Mesmo na janela de 10 anos, favorável à renda variável, dado ter-se iniciado a partir da crise de 2015, o resultado é o mesmo. Nesse período, o retorno total da renda fixa, bate com facilidade a bolsa, tanto ao se comparar com a Selic quanto ao IPCA+6%.
Tais exemplos mostram que no Brasil, o livro-texto da renda variável acaba por ser desafiado, dado que deveria ser parte da natureza dessa classe de ativos ser um outperformer da renda fixa em janelas longas, dado características como alavancagem operacional das empresas, consolidação de mercado pelos líderes de market share, boa alocação de capital promovida por times executivos de excelência, etc. Quais poderiam ser as razões que geram essa distorção de mercado no Brasil onde o investidor acaba recebendo um prêmio para investir em um ativo supostamente risk-free?
Uma análise mais profunda das dinâmicas do mercado de capitais mostra que nosso país apresenta algumas distorções grandes em relação aos mercados desenvolvidos, para os quais o livro-texto foi classicamente escrito. Fatores como a grande dificuldade para se fazer negócios no país, amplificados pela confusão tributária, incertezas constantes sobre a economia que dificultam o planejamento e a estabilidade da receita, choques inflacionários que tornam muito difícil o repasse da alta dos insumos e, principalmente, um altíssimo custo do capital que torna o endividamento uma arma apontada contra a capacidade da geração de lucro tornam muito difícil a vida dos empreendedores nacionais.
Já não fossem suficientes todos esses detratores de capacidade de geração de lucro, a bolsa brasileira ainda foi impactada pela sucessão de crises políticas e institucionais brasileiras. A sucessiva onda de resgates em fundos de ações e multimercados, importantes compradores de renda variável, a saída de investidores estrangeiros observada nas últimas duas décadas e a importante alta na curva de NTN-Bs que satisfazem a meta atuarial de muitos planos de pensão e previdência acabaram por amplificar essa dinâmica que afastou tantos investidores da bolsa.
No entanto, dado o atual cenário, uma principal questão é a seguinte: todos os setores da bolsa foram afetados de igual forma por esse contexto? Ou alguma subclasse do Ibovespa conseguiu oferecer um retorno adequado para os investidores mesmo diante do alto custo de capital intrínseco a se investir em ativos de risco no Brasil?
Uma análise abrangente de retornos mostra que um segmento se comportou de maneira muito diferente dos demais nos últimos anos – o setor de infraestrutura. Sua combinação de retornos regulados, que são recorrentemente reprecificados à medida que a curva de juros se abre no país, em monopólios naturais de bens essenciais traz uma dinâmica de receita muito diferente dos demais ativos em bolsa. Fruto de uma inelasticidade da demanda de seus serviços juntamente com custos e despesas de operação previsíveis, os ativos deste setor proveem um fluxo de caixa estável, mesmo em momentos de economia mais incerta, o que gera uma combinação interessante de descorrelação com outras ações e alto fluxo de dividendo para seus acionistas.
A boa rentabilidade desses projetos em um contexto de alta demanda por uma melhor infraestrutura traz oportunidades múltiplas para uma maior alocação de capital pelas empresas do setor, permitindo um contínuo reinvestimento a taxas muito atrativas. Isso gera um efeito de retorno composto que supera várias alternativas de alocação clássicas dos institucionais. As cestas de ativos líquidos de infra superam com facilidade os retornos da renda fixa brasileira, o que já é um trabalho e tanto. Alguns papéis específicos chegam a superar os retornos da bolsa americana, se equivalendo inclusive à da cesta de alocação em ativos de tecnologia medidos pelo índice Nasdaq.
Curiosamente, os ativos de infra que entregaram esse retorno majorado entregam também uma volatilidade menor do que as demais ações. Do lado da menor volatilidade, isso é facilmente explicado pelo caráter defensivo das atividades inerente à setores como transmissão e distribuição de energia, saneamento, rodovias de alto tráfego comercial, terminais portuários de alta resiliência, entre outros. O que mais chama atenção, porém, é que justamente esses ativos entreguem os retornos mais atrativos dentre todas os setores da renda variável brasileira, um claro desafio ao livro-texto que prega a máxima de “vol é vida”, como bem demonstrado no gráfico abaixo.

O resultado, portanto, dessa alocação direcionada a um setor altamente resiliente é uma otimização da fronteira eficiente dos portfólios de renda variável dos alocadores institucionais em um setor que agrega, para além de uma alta rentabilidade, um papel ativo no desenvolvimento social do país com um investimento altamente conectado ao passivo e metas atuariais dos investidores institucionais. Não à toa, mundialmente o desenvolvimento da infraestrutura é financiado por grandes instituições de entidades de previdência pública e privada, onde fundos de pensão americanos, canadenses e asiáticos se destacam, inclusive pela alocação de capital no Brasil.
Classicamente concentrada em veículos de participações (FIPs) com pouca alternativa de liquidez e combinada com uma lembrança de uma safra de investimentos de pouco sucesso, alocadores previdenciários acabaram se afastando de uma tese que intrinsecamente faz todo sentido para rentabilização de seu ativo e adequação de seu ALM. A boa notícia, no entanto, é que uma nova safra de investimentos e a possibilidade de garantir essa exposição via ativos líquidos em fundos de ação com gestão ativa dentro desse setor pode permitir hoje que vários participantes da indústria de alocadores institucionais, mesmo aqueles com maior restrição de liquidez, se voltem novamente para o setor do qual nunca deveriam ter se afastado.
*Marcelo Sandri é sócio e gestor da Perfin Infra
Fonte: Abrapp em Foco, em 29.10.2025.