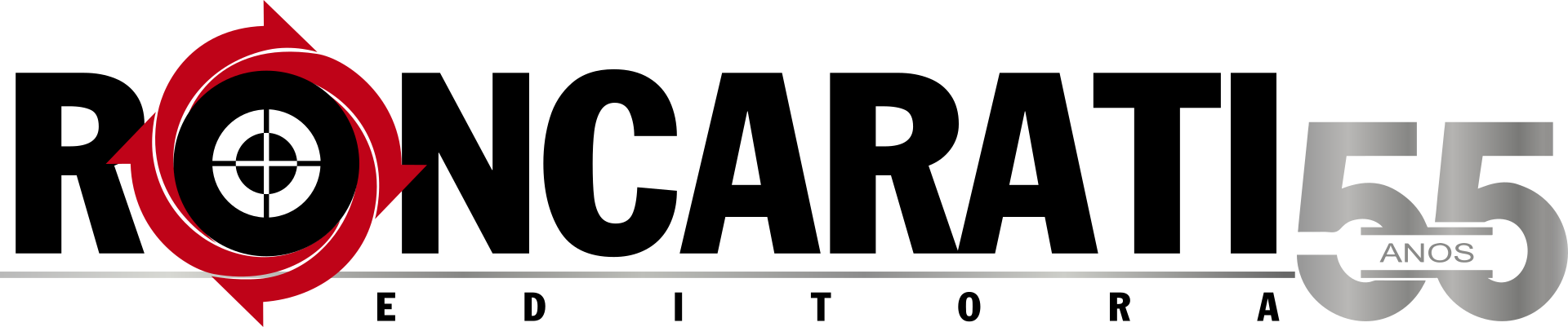Por Felipe Bastos (*)
Quem opera no mercado segurador brasileiro rapidamente percebe que há certas máximas que de tão repetidas parecem adquirir aura de verdade absoluta. Uma delas afeta diretamente uma prática adotada largamente por empresas multinacionais com presença no Brasil, a saber: a contratação no exterior de apólices mundiais. Ocorre que, no dia-a-dia securitário, é lugar comum a adoção de um discurso monolítico e um tanto simplista de que tais apólices não teriam validade no Brasil, a pretexto de que a nossa legislação a proíbe para a cobertura de riscos localizados no país. Segue-se daí que subsidiárias brasileiras se veem pretensamente obrigadas a contratar o seguro correspondente no mercado de seguros doméstico, gerando, ao menos sob o aspecto formal, uma duplicidade ou superposição de cobertura com o seguro de abrangência mundial. A situação é boa, ao menos em princípio, para a produção de seguros no mercado nacional, mas ruim para o grupo empresarial, que fica inelutavelmente com a sensação de desperdício e ineficiência econômico-financeira.
O quadro delineado acima se repete no mercado nacional diuturnamente de forma automática e muitas vezes acrítica. Pois o objetivo desse singelo artigo é desmistificar e relativizar esse carma que persegue as apólices mundiais no Brasil, divisando situações em que a sua contratação deverá ser aceita pelo Direito brasileiro daquelas outras – que ousamos dizer: excepcionais – em que efetivamente exsurge a necessidade de contratação de seguro junto ao mercado doméstico. Devido às limitações inerentes a este veículo, não nos aprofundaremos nas inúmeras nuances e sutilezas jurídicas do tema, apenas traçaremos algumas razões que suportam e liberam as apólices mundiais do estigma que lhes assombra.
O Protecionismo na Indústria Brasileira de Seguros e o Regime Repressivo à Contratação de Seguros no Exterior
Historicamente o mercado segurador brasileiro tem sido marcado por adotar uma rígida política protecionista. O IRB é um símbolo inconteste dessa característica. Sua criação, em 1939, como entidade estatal, foi resultado de uma diretriz política nacionalizante. Ao longo de várias décadas, ele deteve monopólio das atividades de resseguro e retrocessão, e, ainda, de forma sui generis, poderes normativos.
Foi nesse contexto que, em 1940, foi editado o Decreto-lei nº 2.063, cujo art. 186 dispunha que:
Art. 186. Serão feitos no país, salvo o disposto nos arts. 77[1] e 106, além dos contratos de seguros a que se refere o artigo anterior[2], os de seguros facultativos garantindo coisas ou bens situados no território nacional e os de seguros sobre a vida de pessoas residentes no país.
É precisamente da locução “coisas ou bens situados no território nacional e os seguros sobre a vida de pessoas residentes no país” que imaginamos ter origem a crença ainda hoje reinante de que para riscos no Brasil o seguro tem que ser aqui contratado.
Naquela época, quem infringisse o comando do art. 186 estava sujeito “à multa de 10% (dez por cento) do valor da responsabilidade segurada, por ano de vigência do contrato de seguro” (art. 165).
Sobreveio em 1966 o Decreto-lei 73, que definiu o Sistema Nacional de Seguros Privados e a reboque introduziu no ordenamento o ainda hoje muito temido art. 113, in verbis:
Art. 113. As pessoas físicas ou jurídicas que realizarem operações de seguro, cosseguro ou resseguro sem a devida autorização, no País ou no exterior, ficam sujeitas à pena de multa igual ao valor da importância segurada ou ressegurada.
Com o passar dos anos, formou-se razoável consenso na doutrina de que o Decreto-lei nº 73/66 não revogou por completo o Decreto-lei nº 2.063/40, apenas parcialmente em relação a aquelas normas que com ele fossem conflitantes. Convém observar que o Decreto-lei nº 73/66 não contém nenhum dispositivo que contraste com a aludida norma do art. 186 do Decreto-lei nº 2.063/40. Ao contrário, o Decreto-lei nº 73/66 reafirmou em seu art. 6º que “[a] colocação de seguros e resseguros no exterior será limitada aos riscos que não encontrem cobertura no País ou que não convenham aos interesses nacionais”, na esteira do seu predecessor art. 77, caput, do Decreto-lei nº 2.063/40.[3]
Nesse panorama normativo, manteve-se intocado o aforismo segundo o qual, estando o risco no Brasil, aqui deveria ser contratado o seguro, ressalvadas as raras exceções legais expressas.
No que tange à contratação de seguros no exterior, passou a sobressair o raciocínio de que a contratação de seguro no mercado internacional para riscos localizados no país, afora às hipóteses excepcionais previstas na legislação e reguladas pelas autoridades de seguros, exporia as partes da relação ao risco de sujeição à pesada multa positivada no sobredito art. 113 do Decreto-lei nº 73/66.
É óbvio que nem mesmo essa percepção generalizada de um regime repressivo extremamente rigoroso impediu que até hoje grupos empresariais com presença no Brasil convivam com planos de seguros mundiais que incluem a subsidiária brasileira como segurada ou beneficiária. E, nesse sentido, que seguradoras nesses planos mundiais deem cumprimento aos contratos mesmo para sinistros ocorridos no país. Mas é fato também que, para eliminar qualquer risco jurídico-regulatório, muitas subsidiárias brasileiras de grupos estrangeiros correntemente contratam seguros no Brasil a despeito de estarem, ao menos sob o aspecto formal, cobertas em apólices mundiais contratadas no exterior por suas matrizes ou outras empresas alienígenas a ela filiadas ou coligadas.
Apesar da importância da questão, sobretudo após o fenômeno inexorável da globalização econômica, são raríssimas – quase inexistentes – as manifestações que se propõem a analisar a validade das apólices de seguros mundiais criticamente à luz das normas acima e do Direito Internacional Privado (DIPr) brasileiro.
Algumas Observações sobre as Apólices de Seguros Mundiais à Luz do DIPr Brasileiro
Contratos internacionais – i.e., contratos conectados a mais de um sistema jurídico, seja porque as partes são domiciliadas em jurisdições distintas; porque o contrato é celebrado em um local diverso do domicílio das partes ou porque a execução se dará em país diverso do local de domicílio ou de celebração – recebem tratamentos específicos do nosso ordenamento.
Deles se ocupam o DIPr, que, segundo a metodologia tradicional (o método conflitual), por intermédio das regras de conexão, define a questão preliminar que se apresenta em disputas transnacionais: quais dos sistemas jurídicos dentre aqueles com algum contato com o contrato em questão deverá ser aplicado na resolução das controvérsias jurídicas que surjam daquela relação internacional.
Assim é que as regras de conexão são também chamadas de normas indiretas, afinal, elas não dão solução final à contenda, apenas indicam qual sistema jurídico deverá prover as normas de direito substantivo para a pacificação do conflito.[4]
Em matéria obrigacional, a regra de conexão adotada pelo Brasil é a regra do local da constituição do contrato[5]. É o que dispõe o caput do art. 9º do Decreto nº 4.657/1942 – a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), anteriormente denominada Lei de Introdução ao Código Civil:
Art. 9º. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem.
A título ilustrativo, tomemos como exemplo um contrato de seguro mundial firmado por uma empresa-mãe francesa em Paris com uma seguradora daquele país e que se destine a aplicar a todos os bens da contratante espalhados ao redor do globo e também alcance bens e atividades de todas as suas subsidiárias no mundo inteiro.[6] Para tornar o exemplo mais tangível sobre o prisma internacional, podemos supor que dentre os bens haveria, v.g., uma embarcação de bandeira panamenha que fosse contratada temporariamente para uma campanha na bacia de Campos, no Rio de Janeiro, Brasil.
Sob a perspectiva do direito brasileiro – isto é, do art. 9º, caput, da LINDB –, esse contrato de seguro seria regido, em seus aspectos substantivos, em princípio, pelas leis francesas (lei do local da constituição do contrato).[7]
Diga-se “em princípio”, pois cabe uma importante ressalva. Os tribunais brasileiros podem e devem restringir a aplicação do direito estrangeiro à hipótese caso se lhe reputem, no caso concreto, ofensivo à soberania nacional, à ordem pública e aos bons costumes (art. 17 da LINDB), o que de resto, com pequenas variações, é uma regra universal. Outra possibilidade de afastamento da lei estrangeira ocorre em relação às normas de aplicação imediata ou normas imperativas (que os franceses chamam de lois de police e os alemães de Eingriffsnormen), cuja aplicação é mandatória, apesar da remissão feita pelo art. 9º da LINDB ao direito alienígena.[8]
Ou seja, o direito brasileiro aplica a lei estrangeira se ela for o local de constituição do contrato (art. 9º da LINDB), mas pode afastar a sua aplicação no caso concreto invocando fundamentadamente uma das exceções indicadas acima ou normas de aplicação imediata.
Registre-se respeitável opinião divergente de ninguém menos do que Luís Roberto Barroso.[9] Em parecer sobre o tema, o ilustre jurista sustenta que, em se tratando de seguros, a regra de local do risco consagrada no aludido art. 186 do Decreto-lei nº 2.063/40 configuraria norma de ordem pública interna que de tão central ao sistema legal pátrio traduziria, na dimensão do DIPr, verdadeira regra de conexão especial. Nessa qualidade, a regra do local do risco deveria prevalecer sobre a regra de conexão dita geral do art. 9º da LINDB (do local da constituição do contrato). Em seu entendimento, a dimensão fundamental da norma que impõe a contratação de seguro no Brasil para riscos aqui localizados, positivada no art. 186 do Decreto-lei nº 2.063/40 e com fundamento de validade em outras normas hierarquicamente superiores, impediria que, nos domínios securitários, se aplicasse no Brasil de lei estrangeira e, com efeito, que se pudesse reconhecer entre nós validade aos contratos firmados no exterior, mas cuja execução pudesse se dar em território nacional.[10]
A Submergência da Regra do Local do Risco no Ordenamento Jurídico
Nenhuma alteração legislativa foi tão aguardada e festejada pela comunidade securitária nas últimas décadas quanto a quebra do monopólio da atividade de resseguro e retrocessão exercida pelo IRB Brasil RE por quase 70 (setenta) anos. A abertura do mercado se deu por meio da promulgação da Lei Complementar nº 126, de 15 de janeiro de 2007.
O ululante e insistente anacronismo do sistema ressecuritário monopolista brasileiro combinado com o indisfarçado e reprimido desejo de testemunhar a histórica da introdução da concorrência nesse importante setor da economia fez com que operadores do direito securitário voltassem todos os seus olhares a análises para as normas da Lei Complementar 126/2007 que dispunham sobre resseguros.
Contudo, a Lei Complementar 126/2007 não se limitou a disciplinar as operações de resseguro. A sua Seção III, sob a rubrica “Do Seguro no País e no Exterior”, traz normas geralmente negligenciadas pelos intérpretes, mas, a nosso ver, de conteúdo normativo dos mais importantes e, sobretudo, inovador. Vejamos:
Seção III
Do Seguro no País e no Exterior
Art. 19. Serão exclusivamente celebrados no País, ressalvado o disposto no art. 20 desta Lei Complementar:
I – os seguros obrigatórios; e
II – os seguros não obrigatórios contratados por pessoas naturais residentes no País ou por pessoas jurídicas domiciliadas no território nacional, independentemente da forma jurídica, para garantia de riscos no País.
Art. 20. A contratação de seguros no exterior por pessoas naturais residentes no País ou por pessoas jurídicas domiciliadas no território nacional é restrita às seguintes situações:
I – cobertura de riscos para os quais não exista oferta de seguro no País, desde que sua contratação não represente infração à legislação vigente;
II – cobertura de riscos no exterior em que o segurado seja pessoa natural residente no País, para o qual a vigência do seguro contratado se restrinja, exclusivamente, ao período em que o segurado se encontrar no exterior;
III – seguros que sejam objeto de acordos internacionais referendados pelo Congresso Nacional; e
IV – seguros que, pela legislação em vigor, na data de publicação desta Lei Complementar, tiverem sido contratados no exterior.
Parágrafo único. Pessoas jurídicas poderão contratar seguro no exterior para cobertura de riscos no exterior, informando essa contratação ao órgão fiscalizador de seguros brasileiro no prazo e nas condições determinadas pelo órgão regulador de seguros brasileiro.
Talvez à primeira vista o art. 19 citado não pareça senão mera repetição de dispositivos já transcritos anteriormente. Todavia, um olhar mais atento revela que ele, em especial o seu inciso II, confere tratamento consideravelmente novo à regra impositiva de contratação no mercado doméstico de seguros não obrigatórios (também chamados de facultativos). Um cotejo do antigo art. 186 do Decreto-lei nº 2.063/40 com o atual art. 19 da Lei Complementar nº 126/2007 permite entrever com mais facilidade a diferença de tratamento legal num e noutro diploma:
| Decreto-lei nº 2.063/40 | Lei Complementar nº 126/2007 |
| Art. 186. Serão feitos no país, salvo o disposto nos arts. 77 e 106, além dos contratos de seguros a que se refere o artigo anterior, os [contratos] de seguros facultativos garantindo coisas ou bens situados no território nacional e os de seguros sobre a vida de pessoas residentes no país. | Art. 19. Serão exclusivamente celebrados no País, ressalvado o disposto no art. 20 desta Lei Complementar:I – os seguros obrigatórios; eII – os seguros não obrigatórios contratados por pessoas naturais residentes no País ou por pessoas jurídicas domiciliadas no território nacional, independentemente da forma jurídica, para garantia de riscos no País. |
(grifou-se)
Note-se que o art. 186 continha mandamento impositivo de contratação de seguros centrado exclusivamente no critério do local do risco (“coisas ou bens situados no território nacional e (...) a vida de pessoas residentes no país”), independentemente das características pessoais do sujeito contratante do seguro, fosse ele brasileiro ou estrangeiro.
O art. 19, por sua vez, delimita a compulsoriedade de contratação de seguros não obrigatórios para a garantia de riscos no país às pessoas naturais que aqui residam e às pessoas jurídicas domiciliadas em nosso território. A norma está centrada, portanto, não nos riscos, mas predominantemente nos sujeitos de direito que estejam no Brasil, não se aplicando extraterritorialmente, por exemplo, às empresas estrangeiras que legitimamente – leia-se: sem intuito deliberado de fraudar a aplicação da lei de outro país, mas alcançá-lo apenas incidentalmente – contratem no exterior, junto a sociedades seguradoras estrangeiras, seguros que incluam riscos no território brasileiro.
Mais do que isso, é nítido que o critério da sede do risco a ser coberto pelo seguro, referido timidamente e de forma coadjuvante no art. 19, em oposição à centralidade e protagonismo que possuía no art. 186, não ostenta mais a mesma dimensão de outrora, revelando-se bastante discutível a sua configuração como de ordem pública com projeção no DIPr brasileiro.
Mesmo para quem porventura aceitasse atribuir à regra do local do risco no contrato de seguro um caráter de regra de conexão especial para fins do DIPr brasileiro, quer-nos parecer que esse status foi perdido no atual art. 19 da Lei Complementar nº 126/2007, que atribui ênfase ao local de residência ou domicílio das pessoas contratantes.
A nosso ver, a mudança legislativa confirma – ou, no mínimo, devolve – o status de soberania à regra de conexão prevista no art. 9º da LINDB (do local da constituição da obrigação), cuja eficácia plena, podendo conduzir à aplicação da lei estrangeira, somente pode ser afastada, total ou parcialmente, por meio das já citadas exceções de ofensa à soberania nacional, à ordem pública, aos bons costumes (art. 17, LINDB) ou pela aplicação das normas imperativas nacionais outras.
Digam-se outras, porque, em nosso sentir, não deve haver nenhum receio para se concluir que a regra do art. 186 do Decreto-lei nº 2.063/40 foi revogada tacitamente pelo art. 19 da Lei Complementar nº 126/2007. Afinal, a teor do art. 2º, § 1º, da LINDB, “[a] lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.”
Conquanto a Lei Complementar nº 126/2007 não tenha declarado expressamente ter revogado o art. 186 do Decreto-lei nº 2.063/40, a comparação dos dispositivos acima cotejados não dá margem a hesitações de que o art. 19 da Lei Complementar nº 126/2007 é incompatível com o art. 186 do Decreto-lei nº 2.063/40 e, ainda, regula inteiramente a matéria sobre a qual este versava.
Saliente-se, por derradeiro, que a mudança que ora defendemos ter sido promovida pelo art. 19 da Lei Complementar nº 126/2007 se afina completamente com a matriz ideológica e filosófica que motivou a promulgação do referido diploma legal, nomeadamente a abertura do mercado de resseguro e, com efeito, a maior receptividade do mercado segurador brasileiro a empresas de atuação transnacional, como imperativo da globalização econômica.
Conclusões
Com o advento da Lei Complementar nº 126/2007, entendemos que houve sensível limitação subjetiva ao alcance jurídico da norma que disciplina a obrigatoriedade de contratação de seguros no mercado doméstico para riscos no país.
À guisa de conclusão, resgatemos o exemplo da embarcação deslocada temporariamente ao Brasil para uma campanha marítima temporária, digamos, por alguns meses. Na hipótese de sobrevir um sinistro envolvendo esse bem, entendemos que há, na atual conjuntura jurídico-normativa, robustos fundamentos para sustentar a plena validade e eficácia no Brasil do contrato de seguro mundial contratado na França, quando o bem sequer estava em nosso território (e provavelmente nem programado para tanto).
Com base no art. 9º, caput, da LINDB, o direito brasileiro deverá reconhecer a aplicação da lei francesa, de maneira que, em sendo o contrato válido sob as leis da França, não sofrerá embaraços para a sua utilização por aqui, observados no caso concreto pela corte brasileira os limites impostos pelo art. 17 da LINDB.
Em nosso sentir, o que o ordenamento brasileiro continua a vedar é que a subsidiária brasileira do grupo empresarial, alcançada expressamente pelo art. 19 da Lei Complementar nº 126/2007, se utilize de sua matriz, ou de empresa a ela filiada no exterior, para contratar seguro fora do Brasil, evadindo-se da aplicação da lei substantiva brasileira e, em última análise, burlando proibição expressa de norma de ordem pública de dimensão interna.
Portanto, não enxergamos no atual cenário legislativo uma vedação completa e absoluta para que um seguro mundial contratado no exterior por empresa estrangeira possa ter validade e eficácia reconhecidas no Brasil.
Por fim, esperamos que esta nossa provocação por meio deste singelo artigo encoraje outros intérpretes a se dedicarem à investigação jurídica desse tema, que verdadeiramente afeta a rotina de vários grupos empresariais no Brasil, mas é tão carente de literatura específica.
[1] O art. 77, caput, previa que poderiam “ser seguradas no estrangeiro as responsabilidades sobre riscos que não encontrem cobertura no país.” E o seu §1º estatuía que a contratação do seguro no exterior deveria ser feita por intermédio do Instituto de Resseguros do Brasil”.
[2] O artigo anterior (art. 185) estabelecia a obrigatoriedade de comerciantes, industriais e concessionárias de serviços públicos contratar seguro contra o risco de fogo e seguro de transportes, conforme sua área de atuação.
[3] Posteriormente o art. 6º teve sua redação alterada para exigir autorização prévia da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP para a colocação de seguros no exterior e, mais tarde, o dispositivo como um todo foi revogado.
[4] Como bem destaca Nádia de Araújo, “não compete ao DIPr fornecer a norma material aplicável ao caso concreto, mas unicamente designar o ordenamento jurídico ao qual a norma aplicável deverá ser requerida.” (Direito internacional privado: teoria e prática brasileira – 5.ed. – Rio de Janeiro: Renovar, 2011, pp. 44 e 45).
[5]Caso o contrato de seguros seja firmado entre ausentes, ou seja, caso exista um intervalo razoável entre a proposta e a aceitação e as duas partes estejam em países diversos, será considerado local de constituição o do proponente (art. 9º, II, da LINDB).
[6] Presume-se para os fins deste artigo que a sociedade matriz tenha interesse segurável em contratar seguro que preveja cobertura para os bens patrimoniais do seu grupo de empresas em todo o mundo e para as sociedades integrantes do grupo nas diversas jurisdições.
[7] Poder-se-ia questionar se o Direito brasileiro aplicaria a lei substantiva francesa mesmo na hipótese em que o DIPr francês previsse uma regra de conexão que remetesse o contrato à aplicação das leis brasileiras ou de um terceiro país. Estar-se-ia diante de um conflito de 2º grau negativo. O art. 16 da LINDB determina que se desconsidere qualquer remissão feita pela legislação estrangeira – no caso, da França – a outro ordenamento. Portanto, a hipótese em questão não altera o fato de que, segundo o DIPr brasileiro, a lei francesa (lei do local da celebração) deve ser aplicável.
[8] Não se devem confundir normas internas cogentes (normas de ordem pública) com normas de aplicação imediata no plano do DIPr. As normas de aplicação imediata, embora também sejam ius cogens, compõem um conjunto muito mais restrito, pois são habitualmente consideradas mais caras e fundamentais à organização e estrutura de um determinado país. Um exemplo usualmente citado é o da norma que impõe o curso forçado da moeda brasileira, de caráter estruturante e essencial para a estabilidade do sistema monetário nacional. O Regulamento nº 593/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, sobre a lei aplicável às obrigações contratuais (referido como “Roma I”), definiu as normas de aplicação imediata (overiding mandatory provisions) como sendo “disposições cujo respeito é considerado fundamental por um país para a salvaguarda do interesse público, designadamente a sua organização política, social ou económica, ao ponto de exigir a sua aplicação em qualquer situação abrangida pelo seu âmbito de aplicação, independentemente da lei que de outro modo seria aplicável ao contrato, por força do presente regulamento.” (Artigo 9º, 1).
[9] Barroso, Luís Roberto. “Ilegalidade da contratação de seguros no exterior para riscos localizados no Brasil. Princípios e regras aplicáveis e sua interpretação.” Temas de direito constitucional – Rio de Janeiro: Renovar, 2003, Tomo II, pp. 463 a 508.
[10] Pessoalmente, temos algumas dúvidas sobre essa interpretação. A LINDB, de onde decorre a regra de conexão da lei do local da constituição da obrigação é norma posterior ao Decreto-lei nº 2.063, podendo, por isso, prevalecer sobre ela no que tange a prover a regra de conexão pelo critério temporal. Mesmo que se argumente que não estariam no mesmo plano, sendo uma regra de conexão – a do art. 9º da LINDB – geral e outra especial – o art. 186 –, há vários outros fundamentos que nos geram inquietude quanto à interpretação defendida pelo jurista e hoje Ministro do E. STF. Temos reserva quanto à caracterização da regra do local do risco como norma de ordem pública tão fundamental para o sistema jurídico nacional a ponto de influir no DIPr – segundo nível (ou dimensão) de funcionamento da ordem pública, na lição de Jacob Dolinger, e de reduto muito mais restrito do que a ordem pública operativa no direito interno, como classificaríamos a regra do art. 186 do Decreto-lei nº 2.063/40. (Dolinger, Jacob. Direito internacional privado (parte geral). 6.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, pp. 398 a 402).
Além disso, somos céticos quanto a ser o papel do DIPr e, por conseguinte, de uma regra de conexão especial, criar uma obrigação afirmativa de contratação de seguro no mercado doméstico, sobretudo atribuindo efeitos extraterritoriais – vale dizer, para além do território brasileiro – à referida norma jurídica. Por fim, atribuir ao critério do local do risco um caráter de regra de conexão especial para fins de DIPr em se cuidando de relações securitárias equivaleria, na prática, a uma engenhosa forma de transformar a regra de conexão obrigacional da lei do local da sua constituição (art. 9º, LINDB) – adotada pelo legislador, malgrado as várias críticas quanto à sua impropriedade, sobretudo nos dias atuais – em lei do local da execução da obrigação, opção legislativa expressamente recusada pelo Congresso. A nosso aviso, nesse cenário, se o legislador quisesse ter cunhado uma regra de conexão especial para questões de seguros, teria sido muito mais claro a esse propósito, o que não ocorreu.
(*) Felipe Bastos é Sócio de capital da Área Cível de Veirano Advogados e coordenador nacional da Área de Prática de Seguros, Resseguros e Previdência Privada. Mestre em Direito (LL.M.) pela Universidade da Virgínia, EUA. Especialista (pós-graduação) em Direito Securitário pela Escola Superior Nacional de Seguros. Pós-graduando (MBA) em Administração pela FGV. Bacharel em Direito pela UERJ
Fonte: Artigo publicado originalmente na revista Opinião.Seg nº 10, Maio de 2015, pág. 38.