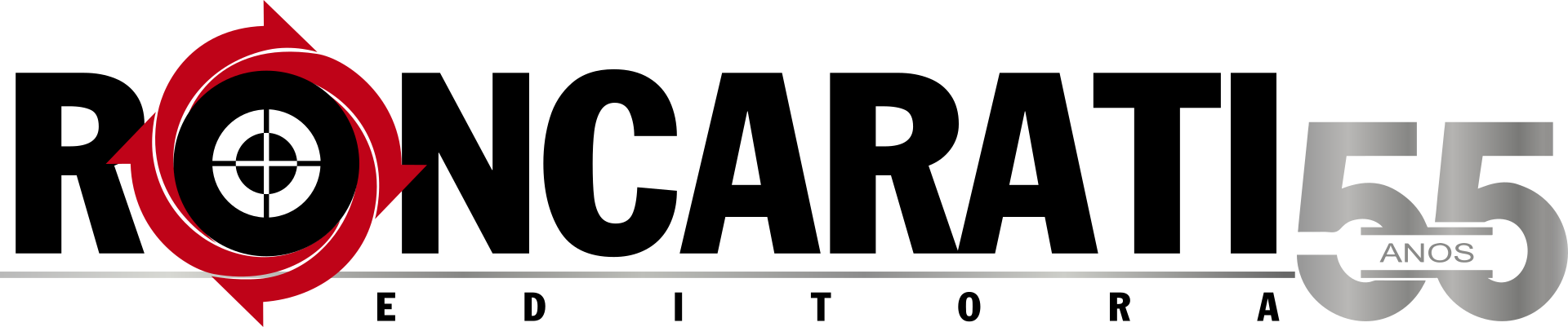Francisco de Assis Braga, Economista, Consultor de Seguros
Instituído, no Brasil, em 1948, o seguro pelo valor de novo de bens de uso permaneceu intocável ao longo do tempo. É assim que o vemos hoje, por exemplo, nas apólices de riscos nomeados e operacionais, e, possivelmente, na maioria das apólices de multirriscos.
Mas o certo é que, com o transcorrer não dos anos, mas de décadas, algumas práticas errôneas se cristalizaram e adquiriram rigidez e monolitismo tão pétreos que quem quer que as critique corre o risco de parecer herético ou lunático.
Julgando mais do que válida uma reflexão sobre o tema e movido pela esperança de que outros técnicos sejam atraídos para um debate sadio e proveitoso daquilo que aqui será posto, pretendo, neste texto: a) primeiramente, relembrar alguns conceitos fundamentais sobre o que é depreciação e de como ela pode ser aplicada; para, em seguida, b) estender-me sobre algumas questões pontuais, as quais, na minha por certo limitada maneira de ver, sobrelevam a outras por sua recorrência no dia-a-dia da atividade de regular sinistros.
Depreciação – Generalidades1 para máquinas e equipamentos
A depreciação pode ser definida como o declínio no valor de um ativo, atribuível a causas tais como uso e desgaste, ação do meio ambiente, obsolescência e inadequação, esta no sentido de impropriedade; ou, então, como a deterioração originada da idade e da utilização de melhorias advindas de melhores métodos, de projetos mais econômicos e eficientes, inovações e avanço geral no estado da arte, a despeito de manutenção razoável e feita de modo periodicamente ótimo para os ativos em questão.
A condição física por si só não é depreciação nem a única medida da depreciação. Outras variáveis fazem parte do jogo, tais como idade, inadequação, obsolescência e condições de uso.
Por definição, a vida útil de uma máquina é aquele período de tempo que se estende desde a data de sua instalação até a época em que deixa de trabalhar/operar. Muitos fatores afetam a vida útil de uma máquina: a) o grau de uso; b) sua idade; c) a frequência com que é reparada ou rejuvenescida, com a substituição de suas partes vitais; e d) o ambiente físico no qual opera.
A idade apenas, a não ser em casos pontualíssimos, não pode ser considerada como a única base para a depreciação, razão pela qual o método chamado de linha reta, se é de amplo uso na contabilidade, não tem a mesma relevância quando se trata de avaliações para outras finalidades, notadamente para seguro.
As condições de uso constituem algo que pode ser determinado apenas através da observação orientada por critérios previamente definidos e acordados. Técnicos diversos podem inspecionar um item ou equipamento e apresentarem diferentes descrições de sua condição. Por tal razão, a literatura especializada costuma propor critérios com certo grau de objetividade para facilitar a avaliação das condições de uma máquina. Foi com tal intenção que John Alico2 sugeriu a tabela que se lê abaixo:
Tabela de referência para depreciação
|
Depreciação – % |
Condição |
Vida útil remanescente – % |
|
Nova |
||
|
0 5 |
Nova, instalada, não usada, máquina em excelente condição. |
100 95 |
|
Muito boa |
||
|
10 15 |
Como nova, apenas levemente usada, e não exigindo qualquer substituição de partes ou reparos. |
90 85 |
|
Boa |
||
|
20 25 30 35 |
Máquina usada, mas reparada ou rejuvenescida3 e em excelentes condições. |
80 75 70 65 |
|
Média |
||
|
40 45 50 55 60 |
Máquina usada, exigindo alguns reparos ou substituição de partes tais como mancais. |
60 55 50 45 40 |
|
Utilizável |
||
|
65 70 75 80 |
Máquina usada em condições de operação, mas exigindo consideráveis reparos ou substituição tais como como motores e elementos. |
35 30 25 20 |
|
Pobre |
||
|
85 90 |
Máquina usada, exigindo reparos maiores tais como a substituição de partes móveis e membros estruturais. |
15 10 |
|
Não vendável ou de sucata |
||
|
97.5 100 |
Sem qualquer perspectiva de ser vendida, exceto para o valor de reaproveitamento de seu conteúdo material básico. |
2.5 0 |
A obsolescência ocorre com mais frequência em máquinas do que em edifícios.
Em máquinas e equipamentos, onde a tecnologia e o estado da arte estão continuamente mudando o projeto, materiais de construção e o know-how de fabricação, é necessário levar em conta o grau de obsolescência que tais mudanças trazem para a perda de valor.
A obsolescência pode ser: a) tecnológica; b) funcional; ou c) econômica.
“A obsolescência tecnológica”, diz Alico, “diz respeito à diferença entre o projeto e os materiais de construção utilizados nas máquinas atuais quando comparados com a máquina sob avaliação”4.
De acordo com o mesmo autor, “a obsolescência funcional tem a ver com a diferença em índices de produção e outras características de capacidade entre uma nova máquina e a máquina sob avaliação”; enquanto “a obsolescência econômica remete a influências externas à máquina mesma; é definida como a perda na desejabilidade ou na vida útil originada de forças econômicas, tais como mudanças na utilização ótima, leis que restringem ou prejudicam o direito de propriedade, assim como mudanças na relação oferta-procura"5
As perdas parciais: critérios de depreciação com visão retrospectiva e prospectiva
Reflitamos, em seguida, sobre o que ocorre com as chamadas perdas parciais. É regra geral e de há muito estabelecida que se deve levar em conta, no momento de depreciar, a vida pregressa do bem, ou seja, seu uso, grau de obsolescência, idade e estado de conservação; e, ainda, que a depreciação, se aplicável, seja deduzida dos prejuízos de novo. Livram-se da regra apenas os bens novos.
A tal critério, que chamamos de retrospectivo, é possível opor o critério prospectivo, o qual, ao invés de olhar para trás, fixa os olhos à frente e estatui que somente se tiver havido ganho substancial de valor por parte do bem reparado é que a depreciação deve ser deduzida.
Ao contrário do que muitos pensam, a abordagem prospectiva é antiga. Vemo-la expressa, por exemplo, pelo nosso Código Comercial, que é de 1850, quando se afirma:
Art. 776 – O segurador não é obrigado a pagar mais de dois terços do custo do conserto das avarias que tiverem acontecido ao navio segurado por fortuna do mar, contanto que o navio fosse estimado na apólice por seu verdadeiro valor, e os consertos não excedam de três quartos desse valor no dizer de arbitradores expertos. Julgando estes, porém, que pelos consertos o valor real do navio se aumentaria além do terço da soma que custariam, o segurador pagará as despesas, abatido o excedente valor do navio. grifos nossos
Alguém, no entanto, poderá dizer que aquilo que prevalece para o seguro de cascos marítimos não deve se estender aos seguros de propriedade em terra.
No entanto, não é o que dizem os textos de doutrina estrangeira, o primeiro deles, citado a seguir, ainda mais antigo que o nosso Código Comercial, pois trata de julgado ocorrido em 1841.
Wellford & Otter-Barry, comentando o caso Vance vs Forster, afirmam:
... mas o júri terá de dizer em qual estado de reparos a maquinaria se encontrava – quanto custaria substituir aquela maquinaria por maquinaria nova -, levando em conta todas as despesas para a instalação completa dessa maquinaria nova e em quanto o moinho estaria melhor (se melhor de algum modo) com a maquinaria nova do que estava na época do incêndio, e a diferença deverá ser deduzida do custo total de pôr lá tal maquinaria nova...6 grifos nossos
Os mesmos autores, coerentes com o que disseram acima, acrescentam:
A restauração, em muitos casos, significa necessariamente que a propriedade destruída terá de ser substituída por propriedade nova, e pela reposição o segurado pode ser posto em posição melhor do que antes do incêndio. Assim, se maquinaria velha é destruída e substituída por maquinaria nova, a maquinaria nova terá vida mais longa. Se, portanto, o segurado é pago por valor que representa o custo de reposição, ele estará, em tais casos, mais do que plenamente indenizado. Consequentemente, alguma dedução terá de ser feita pela diferença em valor entre a propriedade destruída e a propriedade nova de característica similar pela qual foi substituída. Não há, no seguro incêndio, como ocorre no seguro marítimo, qualquer padrão certo pelo qual os valores relativos de propriedade velha e nova devam ser mensurados e cada caso deve depender de suas próprias circunstâncias. Pode muito bem ocorrer, num caso particular, que nenhuma dedução tenha de ser feita porque a posição do segurado de modo algum se viu melhorada pela reintegração7. grifos nossos
A clareza da citação é cristalina; mas poderá ser acoimada de demasiado provecta. Citemos, pois, autores e textos mais próximos de nós.
Thomas & Reed, autores daquela que é, provavelmente, a melhor obra (cuja primeira edição é de 1929 e a quarta e última, de 1977) sobre avaliação de danos à propriedade jamais escrita, afirmam que
Prejuízos e danos em maquinaria são costumeiramente avaliados ou acordados pelo valor depreciado, ou pelo custo de reposição de novo, se a apólice assim dispuser. Prejuízos parciais à maquinaria são fixados com base no custo de reparos menos depreciação por qualquer melhoria decorrente dos reparos8. grifos nossos
Em consonância com o entendimento anterior, na mesma obra, asseveram os autores:
Se um edifício é danificado, mas não destruído, a perda sofrida pelo proprietário é costumeiramente mensurada pelo custo de sua restauração nas condições existentes antes da ocorrência do dano. Se os reparos necessários não são amplos e não envolvem a reposição de unidades inteiras, tais como telhados, não é costume fazer qualquer dedução do custo de reparos por depreciação. Se, contudo, os reparos são suficientemente amplos, de modo que parcela substancial da estrutura será renovada, a depreciação deverá ser deduzida ou abatimento feito por conta da melhoria, pois, se assim não for, o proprietário, uma vez terminados os reparos, estará de posse de propriedade com valor maior do que aquele existente antes da perda. grifos nossos
Pelo que vimos, nos casos de perdas parciais, a depreciação somente deverá ser deduzida do custo de reparos se eles tiverem contribuído com substancial ganho de valor, ou igualmente substancial melhoria (betterment) para o bem reparado.
A depreciação não deve, pois, ser deduzida em qualquer caso, mas, sim, de acordo com um critério de decisão que é aquele de verificar se o bem teve ou não substancial ganho de valor; ganhos muito pequenos ou desprezíveis devendo, ipso facto, serem postos de lado.
Caso seja abandonada a visão prospectiva e adotada a retrospectiva, poderá muito bem ocorrer de o segurado receber menos do que perdeu, em desobediência clara ao chamado princípio indenitário que os ortodoxos sempre citam quando se trata de dizer que não se deve indenizar por valor superior ao que se perdeu. Obviamente que não, mas o venerando princípio indenitário tem duas faces, vale dizer, se não se deve indenizar a mais, também não se deve, no mínimo por uma questão de equidade, indenizar a menos.
Aliás, o próprio contrato de seguros reconhece a validade do que acabamos de dizer. Por exemplo, a cláusula 12a das Condições Gerais para Riscos Operacionais estabelece que
À SEGURADORA é facultado o direito de indenizar o SEGURADO com pagamento em dinheiro ou com reparação ou substituição dos bens sinistrados, a fim de repô-los no estado em que se achavam imediatamente antes do acidente, até os limites de indenização estabelecidos na apólice. grifos nossos
E não é outro o entendimento do Código Civil, quando estabelece que
Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
Art. 776. O segurador é obrigado a pagar em dinheiro o prejuízo resultante do risco assumido, salvo se convencionada a reposição da coisa. grifos nossos
Dito de outro modo, é da natureza do contrato de seguro a função de indenizar (deixar indene, livre de dano) o segurado, qualquer procedimento que implique pagamento menor do que o custo dos reparos (menos eventual aumento de valor que a realização dos reparos traga aos bens objeto dos reparos) significará frustração dos objetivos e do espírito do contrato.
Como a visão prospectiva da depreciação parece estar em desacordo com nossas práticas, parece aconselhável que vejamos alguns exemplos.
Suponhamos que, no combate a incêndio numa indústria, os bombeiros molhem e sujem todo o maquinário de uma planta segurada. O esforço foi louvável, muito embora as chamas não tenham chegado lá. E o que o segurado tem são apenas máquinas que exigem limpeza, a qual, após feita, redunda numa conta de alguns milhares de reais para aos seguradores. Caberá depreciação sobre tal valor? Os ortodoxos dirão que sim, pois, afinal, foram protegidas máquinas usadas. Mas nós dizemos que não, pois, concluído o trabalho, o segurado, quando muito, passou a ter suas máquinas apenas mais limpas e em condições de uso. Nenhum valor lhes foi adicionado pela limpeza; apenas voltaram à sua condição anterior.
Imaginemos, em seguida, que a carcaça nova, instalada há três meses numa máquina usada, tenha sido atingida pelas chamas de modo a ter sua substituição como algo inevitável. Caberá depreciar seu custo de reposição? Os ortodoxos dirão que sim; nós dizemos que não, pois se tratou de carcaça nova, além do que sua substituição por outra nenhum valor acrescentou à máquina, cujas peças vitais foram preservadas das chamas. E melhorias numa máquina só podem ocorrer quando suas partes vitais são reparadas ou repostas, e não com a reposição ou substituição de partes acessórias. O exemplo clássico, neste caso, é aquele da geladeira com vinte anos de uso, mas cuja porta é nova, tendo sido trocada recentemente. Se apenas a porta é danificada, não caberá depreciação, pois, do mesmo modo, a despeito de nova, sua reposição não trouxe nenhum ganho de valor para a geladeira. Tal ocorreria apenas se substituídas peças-chave, como, por exemplo, o compressor; a geladeira como um todo (valor em risco), porém, deverá ser depreciada.
Abordemos os edifícios. Determinado prédio tem 40 anos9 e, portanto, caberá depreciá-lo como um todo. Imaginemos, no entanto, que o incêndio atingiu apenas a pintura do prédio, e que esta pintura foi feita há dois meses. Sobre o custo de repintar, não caberá depreciação; sobre o prédio todo (valor em risco), sim.
Suponhamos, ainda, um edifício de fábrica construído por etapas, ao longo de 20 anos, com prédios em comunicação entre si. Admitamos que temos o prédio A, com 20 anos e 2.000 m2; o prédio B, com 12 anos e 3.500 m2; e o prédio C, com 1 ano, recém- inaugurado, e com 2.500 m2. Se ocorreram, digamos, prejuízos de $ 400.000 no prédio C, nenhuma depreciação deverá ser aplicada. Mas se o prédio A receber uma depreciação de 20%, o prédio B, de 12%, e o prédio C, nenhuma depreciação, a depreciação média ponderada do conjunto de prédios será de 10,25%, coeteris paribus. Mas sobre os prejuízos do prédio C nenhuma depreciação recairá. Concordarão os ortodoxos? Se não concordarem, que justifiquem ou tentem justificar sua discordância – o vírus da dúvida costuma ser o início do caminho em busca da verdade.
Após esses poucos exemplos, perguntemo-nos por que há tanta celeuma e discussão quando se tenta depreciar ao modo ortodoxo. Certamente porque falta flexibilidade de critério, bom senso e justiça ao invés da aplicação cega de regras cujo único sustentáculo lógico é o fato de estarem sendo aplicadas por décadas e por muitos técnicos, já tendo se constituído num hábito. Pois é certo que as cláusulas das apólices de riscos operacionais ou nomeados só dizem que o seguro é por valor de novo, que a depreciação deverá ser aplicada para se chegar ao valor atual, que há um limite para que se indenize a depreciação etc. Mas, além da menção à idade, uso e estado de conservação, variáveis das quais os ortodoxos costumam privilegiar apenas o tempo, não há nenhuma regra particularizando o modo pelo qual a depreciação deve ser calculada. O que medrou, no solo da lei do menor esforço, foi aquilo que em inglês se chama de rules of thumb, regras essas que se petrificaram em hábitos consagrados e apreciados pela renúncia implícita neles do não-pensar.
O mesmo raciocínio é válido para aqueles casos em que os danos parciais são compostos apenas por mão-de-obra. Se a mão-de-obra despendida, por maior que seja seu vulto, simplesmente retornou o bem à sua condição original, sem qualquer ganho substancial de valor, não caberá depreciar.
Caso a mão-de-obra seja inevitavelmente depreciada, como é costume ocorrer entre nós, casos haverá, ainda no campo das perdas parciais, em que a indenização representará menos do que o prejuízo sofrido, mesmo que nenhum ganho de valor tenha ocorrido. Vejamos o seguinte exemplo, de autoria de técnico que milita no mercado, advogando, porém, a visão prospectiva da depreciação. Diz-nos ele:
Ainda uma outra situação nos ocorre que deixa a nu a inadequação do critério retrospectivo de depreciação. Imaginemos que o sinistro envolvendo maquinismos que já tenham consumido, digamos, 90% de sua vida útil. Suponhamos a situação, bastante plausível, em que os gastos com a mão-de-obra e transporte representam 50% do custo total dos reparos, com a utilização de peças novas. Admitamos a possibilidade, igualmente plausível, da existência, em algum ferro-velho, de peças usadas, contemporâneas dos maquinismos sinistrados, a um custo de 10% do custo das peças novas. O reparo do equipamento e sua colocação nas exatas condições do momento imediatamente anterior ao sinistro custaria 55% do custo do reparo com peças novas. Com a adoção do critério mais comumente adotado se indenizaria no máximo 20% desse custo (2 vezes 10% – prejuízos pelo valor atual ou depreciado)10.
Aliás, é nosso pensamento que, em se tratando de mão-de-obra e ainda nos casos de perdas parciais, o mercado bem poderia adotar o critério de nunca depreciar, ao invés de ficar, em sentido contrário, buscando justificativas sutís e mal fundadas, que se repetem mas não convencem aos segurados, sendo vistas ainda com amplo ceticismo pelo Judiciário.
Perdas parciais e aplicação das fórmulas de depreciação
A aplicação das fórmulas conhecidas de depreciação também é exercitada entre nós de modo ortodoxo e bem estratificado, mas inconveniente, injustificável tecnicamente e, em muitos casos, prejudicial aos segurados.
Antes de tudo, é preciso ver qual a fórmula adequada para as perdas em questão. Para casos muito simples e pontuais – depreciação de equipamentos eletrônicos, por exemplo – o método da linha reta pode ser defensável.
Mas, para outros, notadamente naqueles em que variáveis mais complexas passam a compor o quadro, outras fórmulas precisam ser buscadas – a de Ross-Heidecke sendo um exemplo a citar.
A importação de fórmulas apenas porque têm nome em inglês pode ser armadilha a ser evitada. Por exemplo, a fórmula cognominada de declining balance pode ter sido permitida e sancionada para depreciações contábeis, com efeitos fiscais, mas não é de ser utilizada nas depreciações de sinistros em seguros de property, uma vez que, como deprecia muito em pouco espaço de tempo, fatalmente prejudicará aos segurados, cujos bens têm vida mais longa do que aquela implícita em fórmulas como a de que falamos.
Há obra clássica,11 na qual os autores refutam o not fully desirable declining balance rate, quando afirmam:
Nem o método da soma dos dígitos12, nem o método do saldo decrescente13, são recomendados para os trabalhos de avaliação. Mesmo para unidades isoladas estes métodos não aferem a medida do quanto da sua vida útil uma coisa consumiu. Esta afirmação é particularmente aplicável ao método do saldo decrescente, que tem como ponto de partida a escolha arbitrária de uma taxa de depreciação. Estes dois métodos são métodos de alocação idealizados para distribuir a base depreciável de unidades isoladas em quantias decrescentes à medida em que a idade aumenta; assim, eles não são instrumentos satisfatórios para medir a vida útil consumida de um bem.
O certo é que a aplicação do método de depreciação por saldo decrescente produz distorções gritantes; por exemplo, para uma máquina com vida útil estimada de 10 anos, já no terceiro ano de vida (se adotado um valor residual de 5%) a depreciação apurada seria de aproximadamente 60 %!
No depreciar perdas parciais, variáveis a não serem olvidadas são a idade e o estado de conservação, que supõe efeitos do uso, da coisa sinistrada. A contagem de tempo não deve ser processo meramente linear (tempo de uso versus vida útil), pois sabemos que as condições de uso podem quebrar a linearidade do método de depreciar – uma máquina pode, por exemplo, operar em três turnos de trabalho ou em apenas um, trabalhar em condições adversas, que induzam a uma perda de valor mais rápida, ou não.
Quanto ao estado de conservação, é imprescindível conhecer o histórico de vida da coisa sinistrada, tarefa que pode ser menos difícil nas perdas parciais; e verificar se houve ou não manutenções amplas (revamps), nas quais peças vitais da máquina são substituídas, implicando num processo de rejuvenescimento da coisa segurada, podendo conduzi-la para muito além de sua vida útil teórica ou reduzindo sua idade aparente.
Se a consideração dessas duas variáveis é tão importante, seu desprezo só pode ocorrer por desconhecimento técnico ou falta de reciclagem, algo inadmissível num mundo em que o conhecimento progride a taxas assustadoras.
Outro erro no qual comumente se incorre em nosso mercado de seguros é o de fazer as fórmulas de depreciação incidirem também sobre o valor residual. Ora, esse é erro palmar, pois se o valor residual é, por definição, aquele que subsistirá depois de esgotada a vida útil da coisa, como poderá também ele ser depreciado?
Perdas parciais e aplicação de depreciação idêntica para prejuízos e valor em risco
Outra tese de larga apreciação e uso pelos ortodoxos é aquela que afirma dever ser aplicada a mesma taxa de depreciação sobre as perdas parciais e sobre o valor em risco da coisa.
De fato, podemos atribuir a tal tese o estatuto de regra, mas ela comporta exceções, sendo possível defender, e sem nenhuma heterodoxia, mas fundados em princípios de boa técnica e adequada racionalidade, que a taxa de depreciação de partes de uma máquina grande não precisa coincidir, necessariamente, com a taxa que é aplicada sobre a máquina toda.
Acima, vimos, dentre outros, os exemplos do prédio antigo mas com pintura nova e da geladeira, com tempo de uso razoável, mas com porta recém-substituída. Em ambos os casos, vimos que as perdas parciais sofridas pela pintura do edifício ou pela porta da geladeira não eram passíveis de sofrerem depreciação, mas que o valor em risco, vale dizer, o edifício e a geladeira como um todo, sim, deveriam ser depreciados.
Mas, no mundo real, há exemplos mais interessantes e sutis, muitas vezes não perceptíveis a olho nu ou sem um naco de reflexão.
Suponhamos uma máquina de off-set que, num incêndio, sofreu perdas parciais, que atingiu motores e compressores de pequeno porte. Tais partes, por sua substituição mais frequente (digamos, a cada dez anos, enquanto a máquina toda tem vida útil de 30 anos) e, também, pelo pequeno avanço tecnológico ao longo do tempo, inevitavelmente terão de sofrer depreciação menor do que aquela a incidir sobre a máquina como um todo. Porém, – fundados em qual critério assim devemos agir? -, indagarão os ortodoxos. Ora, sobre os motores e compressores as razões para sofrerem depreciação menor já foram dadas. Quanto à máquina como um todo, são suas partes vitais – cabeçotes de impressão, rolaria, tinteiros, dispositivos pneumáticos de entrada de papel, refrigeração – para a rolaria, etc – que determinarão seu coeficiente de depreciação, e, sendo elas, no caso, mais suscetíveis de perda de valor pelo avanço tecnológico rápido e a consequente obsolescência, a depreciação da máquina como um todo por tais partes é que deverá ser medida, não estando desobrigado o avaliador, por certo, a levantar tal valor em risco com o esperado equilíbrio, ponderando a participação na máquina de cada uma de suas partes, seja daquelas que se depreciam menos, seja das que se depreciam mais.
A consideração dos tributos recuperáveis nas perdas parciais e no valor em risco
Sabemos que hoje, por concessão das autoridades fazendárias, alguns tributos (ICMS, PIS/COFINS, etc.) incidentes sobre bens de uso podem ser recuperados pela empresa segurada, de acordo com critérios que a lei estatui.
Por certo e quando cabível, tais tributos deverão ser deduzidos das perdas parciais. Mas o que ocorre, com apreciável frequência, é que, muitas vezes, os tributos recuperáveis são deduzidos dos prejuízos, mas não do valor em risco.
É claro de ver que tal prática pode prejudicar grandemente os segurados naqueles casos em que o seguro não for a primeiro risco absoluto e ficar constatada deficiência de seguro. Um valor em risco inflado de tributos não deduzidos poderá tornar, o segurado, injustamente, como cossegurador da diferença que lhe couber em rateio.
As perdas parciais, a depreciação e as soluções encontradas por outros ramos de seguros
Como arremate das considerações feitas, não podemos deixar de salientar que outros ramos de seguros já resolveram a questão da depreciação das perdas parciais.
No seguro de cascos marítimos, o segurador paga o custo dos reparos a preços de novo, independentemente da extensão desses reparos e sem cogitar se o navio ganha valor com os extensos reparos a que são submetidos após um sinistro. No seguro de plataformas de petróleo, o procedimento não é diferente.
O procedimento nos seguros de automóveis também é de não depreciar perdas parciais. Já imaginou o leitor se, após ter seu carro sinistrado, com perdas parciais, o orçamento de reparos tivesse de ser reduzido por força de depreciação pela idade do veículo?
Em riscos diversos, desde há muito foi desenvolvido wording que permite o cálculo das perdas parciais também a preços de novo, valendo citar como exemplo os seguros para Equipamentos e material rodante.
Mas, em riscos operacionais, nomeados e multirriscos, a coisa não muda e as dúvidas e polêmicas, nas regulações de sinistros, são recorrentes.
Alguém poderá objetar que mudanças como as que proponho agravarão os coeficientes sinistro/prêmio. Mas quais estudos empíricos foram feitos para testar a hipótese? Nenhum que eu saiba. Ademais, se verdadeira a tese, não teríamos pela frente uma questão de underwriting, passível de ser resolvida com reformulação criteriosa do clausulado e eventual alteração nas taxas de prêmio ou nas franquias? Quando se instituiu o seguro pelo valor de novo, em 1948, vozes agourentas não previram um desastre para o ramo Incêndio e a generalização do incendiarismo? No entanto, salvo os retoques que vimos de sugerir, temos convivido, desde então, com o seguro pelo valor de novo, e sem qualquer catástrofe temível e desmesurada.
Sem que haja nenhuma mudança, persistiremos apoiados no hábito e no não-pensar, mas ambos não são fundamento seguro de nada.