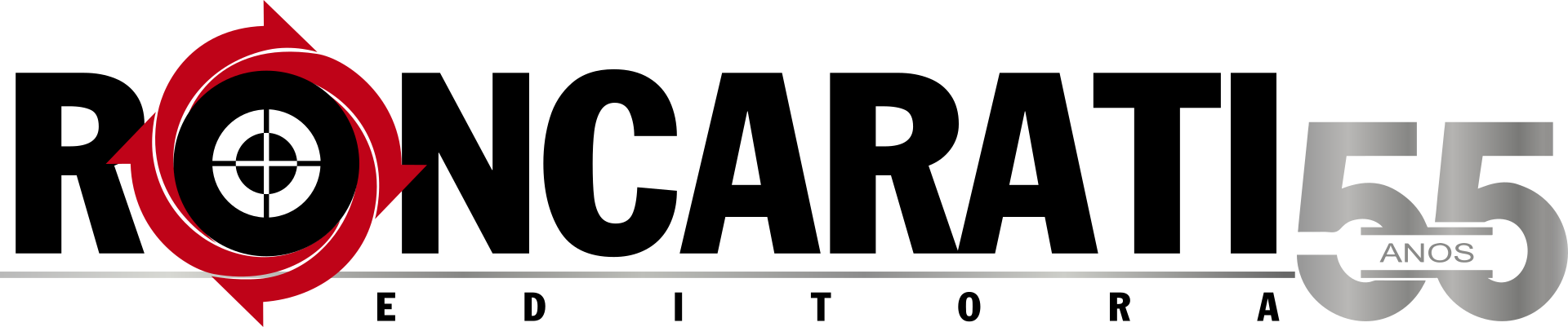A Nova Lei de Seguros (Lei 15.040/2024): Entre o Fomento e os Vieses Interpretativos – Uma Crítica Construtiva


Por Autora: Rafaella Barbosa Pessoa de Melo Menezes (*)

Introdução
A promulgação da Lei nº 15.040, de 9 de dezembro de 2024, representa um marco regulatório há muito esperado no mercado de seguros brasileiro. Com entrada em vigor prevista para dezembro de 2025, a norma se propõe a modernizar, sistematizar e conferir segurança jurídica a um setor que há décadas opera sob legislação fragmentada e, muitas vezes, anacrônica.
Trata-se de um texto extenso — com 134 artigos — e ambicioso: busca consolidar conceitos, disciplinar a relação entre segurado e seguradora e, sobretudo, fomentar o desenvolvimento do mercado segurador nacional. A lógica subjacente é simples, porém potente: fortalecer o seguro como ferramenta de proteção e estabilidade financeira não apenas para indivíduos, mas para a sociedade como um todo.
No entanto, ao mergulhar nos debates que vêm sendo travados nos eventos jurídicos e técnicos, nas primeiras doutrinas publicadas e nas análises promovidas por entidades do setor, nota-se um padrão interpretativo curioso — e um tanto perigoso. A depender da perspectiva adotada, o mesmo dispositivo legal ganha contornos drasticamente distintos. De um lado, a defesa institucional das seguradoras costuma atribuir ao segurado a responsabilidade quase exclusiva pela precisão das informações prestadas. De outro, a doutrina mais afeita à defesa do consumidor mantém o tom protetivo, centrando o ônus da comunicação clara e da adequada precificação do risco nas seguradoras.
Este artigo pretende se posicionar fora dessas trincheiras. Não para invalidar os argumentos de qualquer dos lados, mas para propor um olhar mais integrador. Parte-se da premissa de que o desenvolvimento do mercado de seguros exige mais do que novas regras: exige nova postura. E nesta nova postura, a comunicação entre os atores — seguradoras, segurados e corretores — passa a ter papel central. É por meio desse diálogo qualificado que o seguro poderá, de fato, cumprir seu papel de instrumento de bem-estar, prosperidade e proteção social.
1. A Lei 15.040/2024: Avanços e Estrutura
A nova legislação sobre seguros privados tem sido celebrada por sua abrangência e por trazer, enfim, uma consolidação de princípios e dispositivos que estavam dispersos ou ausentes do ordenamento jurídico.
Entre os principais avanços, destacam-se:
- A definição mais precisa dos elementos essenciais do contrato de seguro, incluindo conceitos como risco, prêmio, cobertura e capital segurado;
- A regulamentação da fase pré-contratual com foco na transparência e no dever de informação;
- A previsão de normas claras sobre prescrição, regulação de sinistros, sub-rogação e cessão de apólices;
- A valorização do princípio da boa-fé objetiva, aplicado bilateralmente entre segurado e seguradora.
Em linha com as diretrizes da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a lei também busca incentivar a inovação e a concorrência no setor, criando um ambiente juridicamente mais seguro para a entrada de novos produtos e novos players no mercado — o que, em tese, favoreceria a democratização do acesso ao seguro e sua consequente popularização.
É inegável que o texto legal traz consigo uma expectativa de maturidade institucional. Mas como ocorre em toda inovação normativa, é na interpretação prática que os conflitos começam a surgir.
2. Os Vieses Interpretativos: de que lado está a proteção?
Desde sua publicação, a Lei 15.040/2024 tem sido objeto de análises em eventos acadêmicos, seminários setoriais e nas primeiras obras doutrinárias — como aquelas organizadas pela Editora Foco e Editora Roncarati. Nessas discussões, emerge uma dicotomia interpretativa que se repete: a disputa pela titularidade da proteção legal.
De um lado, as seguradoras e seus representantes interpretam os dispositivos da nova lei à luz da autonomia contratual, defendendo que o segurado — em especial aquele de perfil empresarial — deve ser o principal responsável por fornecer com exatidão as informações necessárias à correta precificação do risco. Esse entendimento reforça a ideia de que o segurado detém o conhecimento mais detalhado sobre seu próprio risco e, portanto, deve agir com máxima diligência e exatidão no momento da contratação.
Por outro lado, doutrinadores que adotam a perspectiva consumerista reforçam a compreensão de que o contrato de seguro, por sua natureza massificada e de adesão, exige um regime de proteção ao segurado. Isso se justifica pelo desequilíbrio técnico entre as partes e pela complexidade do produto, o que impõe à seguradora o dever de prestar todas as informações de maneira clara, compreensível e acessível, permitindo ao segurado uma decisão consciente.
Essa ambiguidade interpretativa, embora previsível em um novo marco normativo, precisa ser enfrentada com maturidade. O risco é que a nova legislação seja reduzida a uma arena de disputas binárias, onde cada lado reivindica para si o manto da boa-fé, da responsabilidade e da proteção. Para evitar essa fragmentação, é necessário reorientar o foco do debate: mais do que disputar quem merece mais tutela, o desafio está em fortalecer os meios que aproximem as partes e promovam a compreensão mútua.
Nesse sentido, é possível apontar dois caminhos indispensáveis para a evolução do mercado segurador brasileiro. O primeiro é a valorização do corretor de seguros como elo essencial entre seguradora e segurado — tema que será abordado no tópico seguinte. O segundo, tão importante quanto, é o estímulo à construção de uma política consistente de educação securitária, coordenada pelas próprias seguradoras.
Um exemplo marcante nesse campo foi a atuação da Seguradora Líder, quando esteve à frente da gestão do seguro DPVAT. À época, a empresa investiu de forma expressiva em campanhas educacionais e informativas, alcançando a população em larga escala. Foram produzidos conteúdos acessíveis, distribuídos em diferentes mídias, esclarecendo quem tinha direito à indenização, em quais hipóteses o seguro era devido, e como acionar o benefício. O DPVAT era um seguro antigo, mas amplamente desconhecido pela maior parte da população — muitas vítimas de acidentes sequer sabiam que tinham esse direito.
Essa experiência evidencia o poder da comunicação informativa e acessível. Quando bem estruturada, a informação transforma o produto seguro em algo compreendido, desejado e valorizado. É preciso que as seguradoras, além de buscar inovação técnica e novos produtos, compreendam seu papel formador junto à sociedade brasileira. Afinal, um mercado educado é também um mercado mais justo, eficiente e sustentável.
3. O Papel do Corretor como Elo Fundamental
O corretor de seguros ocupa uma posição estratégica, embora muitas vezes negligenciada nas discussões sobre a nova Lei 15.040/2024. Ele atua como elo técnico e comunicacional entre segurado e seguradora, e sua atuação vai muito além da simples comercialização de produtos. Em um cenário regulado por normas que exigem precisão nas informações e clareza contratual, a figura do corretor merece especial valorização.
O corretor interpreta tecnicamente os riscos, traduz as cláusulas contratuais, auxilia na formulação correta da proposta e presta consultoria contínua. Em um ambiente no qual tanto seguradoras quanto segurados frequentemente disputam a responsabilidade pela boa-fé contratual, o corretor representa um ponto de equilíbrio. Ele exerce um papel de intermediação que pode prevenir litígios e favorecer a correta compreensão das obrigações e dos direitos das partes.
A nova lei, embora não trate extensivamente da atuação dos corretores, traz no art. 6º, §2º, uma previsão importante:
“Considera-se que as informações prestadas por meio de intermediário, como o corretor de seguros, são de responsabilidade do segurado, salvo quando se tratar de informações prestadas por esse intermediário em nome da seguradora.”
Esse dispositivo deixa clara a complexidade da posição jurídica do corretor, que pode atuar em nome de ambos os polos da relação contratual, conforme o caso. Essa ambiguidade funcional exige cuidado adicional das partes e reforça a importância de se definir, no momento da contratação, quem o corretor representa e com quais poderes está investido. É um aspecto que pode ter reflexos diretos na validade das informações prestadas e na eventual responsabilização por vícios contratuais.
Mais do que apenas um vendedor de apólices, o corretor deve ser entendido como um agente formador da cultura do seguro. Em uma sociedade ainda pouco familiarizada com os conceitos, limites e utilidades do seguro, esse profissional pode — e deve — exercer também uma função educativa. Ao esclarecer dúvidas, orientar escolhas e traduzir os termos do contrato para o segurado, o corretor contribui diretamente para a construção de um mercado mais consciente, transparente e eficiente.
4. A Crítica à Narrativa do “Seguro Caro”
A ideia de que o seguro é um produto caro ainda permeia o imaginário popular. Contudo, essa percepção precisa ser analisada com maior profundidade.
O seguro é um contrato técnico, cuja precificação é determinada com base em critérios atuariais, levando em conta fatores como risco, sinistralidade, reservas técnicas e projeções estatísticas. Não se trata, portanto, de um preço arbitrário ou desvinculado da realidade do mercado.
Além disso, grande parte da sensação de custo elevado decorre da falta de compreensão sobre o funcionamento do seguro. Um consumidor mal informado tende a enxergar o produto como uma despesa — e não como um instrumento de proteção, estabilidade e até mesmo de reconstrução patrimonial.
Essa percepção equivocada cria um ciclo vicioso: a desinformação leva à baixa valorização do seguro, o que reduz sua contratação consciente e aumenta a resistência ao pagamento do prêmio.
Mais do que isso, é necessário reconhecer que a má utilização do seguro também impacta diretamente no custo final do produto. Quando segurados omitem informações relevantes no momento da contratação, ou, pior, agem com dolo ou negligência durante a vigência do contrato — especialmente no momento do sinistro —, tais comportamentos distorcem a avaliação do risco pelas seguradoras. Fraudes, agravamentos não comunicados e má-fé contratual não são fatos isolados: entram nas estatísticas e são incorporados aos cálculos atuariais.
Assim, no fim das contas, quem paga pela falta de educação securitária da sociedade são os próprios segurados, que arcam com prêmios mais altos para compensar os desvios de comportamento de parte dos consumidores. Essa é uma realidade que precisa ser enfrentada com maturidade: o fortalecimento de uma cultura de boa-fé, responsabilidade contratual e uso consciente do seguro é benéfico para todos os envolvidos — segurados, seguradoras e corretores.
Portanto, a crítica mais adequada não é ao valor do prêmio em si, mas à ausência de uma cultura de educação securitária robusta e eficaz, que seja capaz de orientar o comportamento do segurado desde a contratação até a execução do contrato.
A boa-fé deve ser compreendida não apenas como um princípio jurídico, mas como um compromisso ético e coletivo que reduz conflitos, previne fraudes e torna o seguro mais acessível, eficiente e sustentável.
5. A Boa-fé como Elemento Estruturante do Contrato de Seguro e a Interpretação dos Artigos 14 a 17 da Nova Lei.
O princípio da boa-fé, amplamente consagrado no Direito Civil brasileiro, é a espinha dorsal das relações contratuais, especialmente no contrato de seguro. Trata-se de um princípio que ultrapassa a simples ausência de má-fé subjetiva, exigindo condutas éticas, colaborativas e leais entre as partes — desde a fase pré-contratual até a conclusão e até mesmo após o término da relação.
O artigo 765 do Código Civil estabelece, de forma expressa:
“O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.”
No contrato de seguro, essa exigência se justifica porque a apuração do risco depende diretamente das informações prestadas pelas partes. Uma declaração inexata pode desequilibrar a mutualidade do sistema e prejudicar a coletividade segurada. Assim, tanto o segurado deve agir com transparência quanto a seguradora deve formular perguntas claras, fornecer informações adequadas e se abster de explorar a assimetria técnica.
Com o advento da Lei 15.040/2024, a boa-fé objetiva ganha ainda mais relevância, especialmente nos artigos 14 a 17, que tratam do agravamento do risco. Esses dispositivos estabelecem regras sobre a obrigação do segurado de informar alterações que possam impactar o risco coberto.
O ponto central de debate, contudo, está na interpretação prática desses artigos.
De um lado, a doutrina que representa o ponto de vista do segurado — como Ernesto Tzirulnik — sustenta que o ônus da prova do agravamento do risco é da seguradora, e que este não se presume. Tzirulnik adverte que o simples fato de ter ocorrido um sinistro após uma alteração na realidade do risco não significa, automaticamente, agravamento. A seguradora deve demonstrar, com clareza, que o evento modificou substancialmente o equilíbrio do contrato.
De outro, há interpretações, como a apresentada no livro Lei de Seguros Interpretada, coordenado por Angelica Carlini e Glauce Carvalhal, que enfatizam a responsabilidade do segurado em fornecer informações completas e verdadeiras, pois é ele quem detém o conhecimento técnico do risco a que está exposto. Essa visão impõe ao segurado o dever de declarar com precisão quaisquer alterações, inclusive aquelas não diretamente solicitadas, para que a seguradora possa ajustar o prêmio ou até mesmo recusar a continuidade do contrato.
O que se observa, portanto, é mais um exemplo da polarização interpretativa que marca os primeiros debates sobre a nova legislação: ora o segurado é visto como o responsável técnico e detentor da verdade, ora como a parte vulnerável que deve ser protegida contra práticas abusivas ou omissas das seguradoras.
Essa contradição interpretativa reforça a tese central deste artigo: mais do que escolher um lado, é preciso recalibrar a comunicação e promover a cooperação mútua. Os artigos 14 a 17 são uma oportunidade para estimular o diálogo entre as partes, com o corretor de seguros exercendo um papel mediador essencial.
O ideal é que a boa-fé seja compreendida não apenas como uma exigência jurídica, mas como princípio de convivência contratual equilibrada e sustentável.
6. Conclusão: Uma Nova Cultura para um Novo Mercado
A Lei 15.040/2024 representa um passo significativo rumo à modernização do mercado de seguros. No entanto, para que seus efeitos sejam concretos, é preciso mais do que mudanças legais: é necessário um novo olhar cultural.
O foco do mercado deve ser o equilíbrio contratual, a transparência nas relações e a construção de um ambiente de confiança mútua. A figura do corretor de seguros se revela, nesse cenário, essencial para garantir a efetividade do sistema.
Adicionalmente, é possível vislumbrar medidas práticas que poderiam ser adotadas pelas próprias seguradoras como forma de fomentar a educação securitária e, ao mesmo tempo, fortalecer a boa-fé objetiva no mercado. Uma delas seria o estímulo direto aos segurados para que assistam a conteúdos informativos específicos sobre o seguro que estão contratando — com foco, por exemplo, nas principais hipóteses de negativa de cobertura. Como incentivo, poderiam ser oferecidos benefícios ou pontos passíveis de troca por serviços, nos moldes dos programas de fidelidade já existentes em diversas carteiras de seguro.
Outra iniciativa relevante seria a criação de campanhas institucionais de incentivo para corretores e escritórios credenciados, com o objetivo de reconhecer e premiar aqueles que comprovadamente contribuem para a disseminação de informações corretas e acessíveis sobre seguros. Essa atividade educativa poderia ser considerada como critério de avaliação qualitativa na seleção e manutenção dos prestadores de serviço.
Essas são apenas algumas sugestões que, se bem implementadas, podem representar um avanço concreto na formação de uma cultura securitária mais sólida, ética e participativa, contribuindo diretamente para a redução de conflitos, o aumento da confiança e a efetivação dos objetivos centrais da Lei 15.040/2024.
Além disso, é fundamental reforçar o papel da Susep como autoridade fiscalizadora, especialmente nos casos em que as seguradoras deixarem de cumprir o que está expressamente previsto no clausulado contratual. A presença de uma fiscalização ativa e eficaz garante maior segurança jurídica e protege o equilíbrio das relações contratuais.
Do mesmo modo, é igualmente essencial que os segurados passem a compreender que a boa-fé objetiva é uma via de mão dupla. O descumprimento de seus deveres informativos ou a adoção de condutas de má-fé também devem ser objeto de responsabilização. A lei precisa ser aplicada com equilíbrio: seguradoras devem ser cobradas quando falham com o que pactuaram, mas os segurados também devem ser responsabilizados quando agem com dolo, omissão ou imprudência.
Além disso, é necessário fomentar uma postura ativa de mitigação de riscos por parte dos segurados. Ter um seguro contratado não deve ser interpretado como autorização para descurar dos cuidados normais de cautela. A existência do seguro não substitui a responsabilidade pessoal; ao contrário, ela pressupõe um comportamento diligente para que o contrato cumpra sua função econômica e social sem desequilibrar o mutualismo.
Superar discursos polarizados e simplificadores é o primeiro passo. O desafio é criar uma cultura na qual o seguro seja reconhecido por seu verdadeiro valor social: promover segurança, estabilidade e desenvolvimento.
A Lei 15.040/2024 representa mais do que uma mudança normativa: trata-se de um convite à revisão cultural sobre como contratamos, utilizamos e comunicamos o seguro. A consolidação de um mercado mais maduro depende, acima de tudo, da educação, da fiscalização e da boa-fé de todos os envolvidos.
Bibliografia
1. Migalhas
Migalhas. "Lei 15.040/2024: principais impactos e desafios do novo marco legal do seguro." Migalhas, dezembro de 2024. Disponível online.
2. Editora Foco
CARLINI, Angelica (org.) & CARVALHAL, Glauce (org.). Lei de Seguros Interpretada. Editora Foco, 2025.
3. RONCARATI
TZIRULNIK, Ernesto. Reflexões sobre o agravamento do risco nos seguros de danos. 2. ed. São Paulo: Editora Contracorrente, 2021.
(*) Rafaella Barbosa Pessoa de Melo Menezes é sócia do Barbosa Pessoa de Melo Advocacia, responsável pelo setor estratégico e das grandes negociações do escritório. Formada em Direito pelo Centro Universitário AESO - Barros Melo (UNIAESO), com aperfeiçoamento em mediação empresarial na ALGI, com certificação avançada pela ENS (Escola de Negócios de Seguros) sobre a nova lei de seguros e seus impactos adquirida na 1ª Turma de 2025. Membro da Sou Segura desde 2023. Possui ampla experiência no contencioso de massa no direito securitário, atuando com clientes dos setores de automóveis, vida, residencial, DPVAT, entre outros.
São Paulo, 12 de junho de 2025